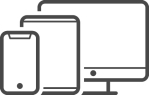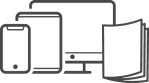Ruth Helena Bellinghini
Os pesquisadores americanos estão de olho no Oriente Médio e torcendo para o conflito no Iraque terminar. Não, eles não estão interessados no petróleo, mas em portadores de mutações genéticas, em mutantes humanos que possam ajudar os cientistas a descobrir a função de mais algumas dúzias de genes. Não que essas mutações tenham ocorrido pelo uso de algum agente ou arma misteriosa, mas por um costume ainda comum na região. O Oriente Médio é uma das poucas áreas do planeta onde os casamentos consangüíneos, entre primos e parentes, ainda são comuns. São alianças combinadas entre famílias que vivem em aldeias próximas, onde todos são parentes. “O resultado é que num único hospital da região você encontra 20 ou 30 casos de uma doença que, nos Estados Unidos ou Europa, existe, quando muito, em apenas um paciente no país inteiro”, conta Richard Lifton, diretor do Departamento de Genética da Universidade de Yale, Estados Unidos.
Lifton sabe do que está falando. Durante anos andou à procura de pessoas e famílias com extremos de pressão arterial, baixa demais ou alta demais. O recorde foi de um garotinho de Boston de um mês e meio de idade com pressão de 24 por 12 – o normal para um adulto é 12 por 5. A pesquisa levou Lifton a identificar uma dúzia de genes, todos expressos nos rins, cuja função é regular o equilíbrio de sal no organismo e, portanto, a pressão arterial. “Nós não podemos, por razões éticas óbvias, criar em laboratório mutantes humanos como fazemos com moscas e camundongos, mas a natureza faz isso para nós”, diz o pesquisador. De acordo com ele, essa é uma das áreas em que a genética tradicional se une à genômica para produzir informações valiosas. “Essas doenças raras nos permitem identificar proteínas e circuitos importantes não apenas para o doente, mas para todos nós: se naquela pessoa o gene afetado produz um resultado, pode-se a partir do ‘defeito’ inferir sua função.”
A genética clássica passou décadas debruçada sobre a árvore genealógica de famílias que pareciam perseguidas por uma espécie de “maldição”, onde a mesma doença aparecia seguidas vezes, geração após geração. Foi o caso da hemofilia que castigou os descendentes da rainha Vitória, na Inglaterra, e do câncer de estômago que atingiu os Bonaparte. Isso sem falar naqueles casos imprevisíveis de más-formações que, até bem pouco tempo atrás, tinham como único destino os circos de horrores. Tudo isso começou a mudar nos anos 70, quando as técnicas de manipulação de genes em laboratório passaram a revelar em detalhes os pequenos erros de DNA capazes de provocar grandes tragédias familiares. O seqüenciamento do genoma humano facilitou ainda mais a vida dos cientistas: identificado os genes suspeitos de causar o problema, basta comparar sua seqüência com a depositada nos bancos de dados públicos, via Internet. Esse mesmo gene pode ser clonado e inserido em um camundongo, por exemplo, para confirmar que se ele é responsável pelo problema e ainda revelar a função de sua versão normal.
O potencial de pesquisa dos mutantes é tão grande que já rendeu até Prêmio Nobel. Foi estudando uma doença genética, a hipercolesterolemia familial, que Michael Brown e Joseph Goldstein ganharam o Nobel de Medicina de 1985. Nos portadores desse mal, o receptor celular que deveria remover o LDL (o colesterol “ruim“) do sangue não funciona e a gordura se acumula nas artérias, trazendo o enorme risco de enfartes ainda na adolescência ou mesmo na infância. O estudo desses casos levou Brown e Goldstein a descobrir como os receptores da membrana celular capturam e levam o LDL para dentro da célula e a desenvolver as estatinas, que estão hoje entre as drogas mais eficientes no controle do colesterol.
Mas como surgem os mutantes? Tudo acontece porque o DNA tem mecanismos fascinantes de reparo, mas eles não são infalíveis. “Uma célula humana leva em média 6 horas para duplicar todo seu genoma, de 3 bilhões de pares de bases. E ela só comete um erro a cada 10 bilhões de pares de bases, o que significa menos de um erro para cada três células duplicadas. É um sistema impressionante”, diz Stephen Bell, do Departamento de Biologia do Instituto de Tecnologia de Massachussetts (MIT) e do Instituto Médico Howard Hughes, ambos nos Estados Unidos. Se, por um lado, esses pequenos erros podem causar doenças graves, são essas mesmas alterações que garantem a enorme diversidade da espécie humana. Algumas se tornam tão comuns que se espalham pela população. Cada gene humano tem dezenas de versões – os alelos –, todas funcionais, perfeitas e que podem até garantir vantagens. Um exemplo é o alelo com o simpático nome de variedade delta32 do gene CCR5, que faz o portador ser naturalmente imune ao vírus da aids. No geral, um ser humano é diferente do outro por causa de meros 1,4 milhão de bases de DNA, ou 0,1% do total. Isso é tudo o que diferencia você da Gisele Bündchen ou do Brad Pitt.
A DNA polimerase, a enzima que comanda a duplicação da molécula, funciona também como um revisor de texto, que procura por quinas e calombos na dupla hélice do DNA. É que, de vez em quando, em vez da adenina (A) parear com a timina (T), uma outra molécula – a guanina (G) ou a citosina (C) – se encaixa ali. Quando um desses erros é detectado, genes especializados no conserto do DNA – como o MSH2, MSH3, MLH1 e outros – entram em ação, removendo o trecho problemático e copiando-o de novo ou então substituindo a letra errada. Detalhe: ao contrário do que a gente faz quando corrige um texto, o DNA não vai “olhar” no molde para ver se o par A-G era, no original, um A-T ou C-G. Troca pelo que parecer “mais conveniente” e, algumas vezes, isso resulta numa mutação. De acordo com pesquisadores, esse processo faz com que cada um de nós nasça com cerca de 300 mutações em relação ao material genético que herdamos de nossos pais. Como 95% do genoma humano não contém genes (isto é, seqüências que codificam proteínas), a maioria dessas alterações do DNA não tem grandes conseqüências. Existem alguns, porém, que causam estragos enormes.
Pessoas que nascem com mutações nesses genes de reparo, por exemplo, convivem com sérios problemas de saúde. Alterações nos genes MSH2 e MSH3 são a causa do câncer hereditário não-poliposo do cólon, que aparece na faixa entre 20 e 30 anos, com várias reincidências. Alterações em outro gene de reparo, o XPA, causam a xeroderma pigmentosa, marcada pela extrema sensibilidade aos raios ultravioleta e alta suscetibilidade ao câncer de pele. As crianças que nascem com essa mutação não podem se expôr à luz solar e a nenhuma fonte de ultravioleta. Se saem à rua, precisam estar completamente cobertas. Grupos de pais organizam festas e acampamentos para elas, onde todas as atividades são realizadas à noite. Por isso, são conhecidos como “filhos da Lua”.
“Todos nós somos mutantes, mas alguns de nós somos mais mutantes do que os demais”, diz o biólogo holandês Armand Marie Leroi, pesquisador do Imperial College, de Londres e autor do livro Mutants (Mutantes, inédito no Brasil). O biólogo foi atrás das peças mais bizarras que o DNA pode pregar nos seres humanos. Especialista em Caenorhabditis elegans, o verme que é modelo para estudos de desenvolvimento embrionário, Leroi foi atrás justamente dos erros que ocorrem com os embriões humanos, unindo relatos históricos com o que há de mais avançado em ciência. “Ao longo da história, esses defeitos congênitos sempre foram associados a um castigo dos deuses. Na Idade Média, eram atribuídos a transgressões, como relações sexuais entre padres e freiras, relações com animais, sexo em posições tidas como indecentes ou até intervenção do demônio”, diz Leroi. Foi justamente pela observação da natureza, em pleno Iluminismo, que a ciência começou a tentar explicar por que, algumas vezes, um bebê nasce sem cérebro, sem as mãos ou com o corpo inteiramente coberto de pêlos. Entre as histórias analisadas por Leroi está a dos aleijadinhos brasileiros estudados pela Unesp – famílias de São Paulo, Minas e Bahia que sofrem de aquiropodia, desordem que impede o desenvolvimento de mãos e pés. Analisou também o caso de Harry Eastlake, cujas cartilagens se calcificaram e acabou preso dentro de um outro esqueleto, além de gigantes, anões, gêmeos siameses, mulheres com três mamilos, sendo um deles na coxa.
A galeria de mutações parece interminável e se estende por vários períodos da história – até Leonardo da Vinci chegou a retratar pessoas com deformações. Agora esse tipo de pesquisa volta ao centro das atenções com os estudos de células-tronco. “Elas podem lançar luz sobre o mistério que é o desenvolvimento dos embriões e os acidentes que podem ocorrer nesse processo”, diz Leroi. Mas até que os cientistas consigam avançar nessas pesquisas, o jeito é reconhecer a ajuda que os mutantes trouxeram à ciência e analisar os momentos em que a natureza resolveu inovar no ser humano.
Mutantes brasileiros
O Paraná registra a maior incidência do mundo de câncer supra-renal – um fenômeno que levou o oncologista brasileiro Raul Ribeiro, hoje no St. Jude’s Children Hospital, no Tenessee, EUA, a estudar as crianças da região. “A proteína delas funciona, mas tem uma pequena alteração que a torna mais instável e sensível a mudanças de pH”, diz Raul. Identificada a alteração, foi possível criar mais uma ferramenta para acompanhar as crianças das 25 famílias em que a doença já apareceu. Tratada em estágio inicial, as chances de cura são de 100%.
Corpo fechado
Existem mutantes que poderiam de fato entrar para os X-Men. “Descobrimos um sujeito que sofreu um acidente de carro e, pela gravidade do impacto, deveria estar com dezenas de ossos moídos. Mas não havia nada, nem uma fratura”, diz Richard Lifton, da Universidade de Yale. Descobriu-se que a família tem um metabolismo de cálcio anormal, que aumenta a densidade do esqueleto e elimina a perda óssea, mesmo na velhice. “De início, pensamos que isso acarretaria alta mortalidade na família, mas, ao contrário, eles vivem 90, 94 anos em média”, diz Lifton.A pesquisa da família pode revelar os mecanismos da perda óssea e trazer até remédios para a osteoporose.
Jovens velhos
Existem hoje no planeta 35 crianças com um corpo típico de uma pessoa de 70 ou 80 anos. Elas sofrem de progéria, ou “envelhecimento precoce”. Desde que a doença foi descrita, em 1886, a medicina só registrou uns 100 casos. Elas ficam velhas entre 5 e 10 vezes mais rapidamente que nós e morrem por volta dos 13 ou 15 anos, com arteriosclerose ou enfarte. Tudo isso porque uma letra foi trocada no gene que codifica a laminina A, componente da membrana do núcleo das células. A descoberta foi feita há apenas dois anos, quando os genes dessas crianças foram comparados com o genoma humano. O avanço das pesquisas pode desvendar o que acontece quando envelhecemos.
Vale a pena ler
Mutants, Armande Leroi, Viking, Estados Unidos, 2003

 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 O Taiti, do surfe nas Olimpíadas, é uma colônia da França? Entenda.
O Taiti, do surfe nas Olimpíadas, é uma colônia da França? Entenda. A teoria psicológica dos anos 1980 que pode ter inspirado Divertida Mente
A teoria psicológica dos anos 1980 que pode ter inspirado Divertida Mente Playlist: 5 coisas para ler, ver e jogar em abril
Playlist: 5 coisas para ler, ver e jogar em abril Como funciona o time de atletas refugiados nas Olimpíadas?
Como funciona o time de atletas refugiados nas Olimpíadas?





![[BF2024] - Paywall - DESKTOP - 728x90](https://gutenberg.super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/10/BF2024-Paywall-DESKTOP-728x90-1.gif)
![[BF2024] - Paywall - MOBILE - 328x79](https://gutenberg.super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/10/BF2024-Paywall-MOBILE-328x79-1.gif)