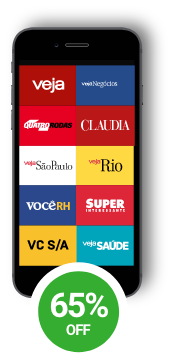Robôs roubarão o lugar de médicos nas salas de operação
O médico vai entrar em extinção? Não. Mas, com os recentes avanços tecnológicos na medicina, ele não será mais o mesmo.
Tiago Cordeiro e Rafael Tonon
O paciente deu entrada na sala de cirurgia do Hospital Geral de Montreal, no Canadá. Estava cercado por 3 enfermeiros e 2 robôs. A equipe médica estava em outra sala, distante 3 andares. Controlado a distância por joysticks, um braço robótico aplicou a anestesia. Foi quando a segunda máquina entrou em ação. Introduzida no abdômen, por uma incisão de 2 centímetros, ela alcançou a próstata. Uma câmera acoplada fornecia aos 3 médicos imagens 3D. Comandado da outra sala, o equipamento retirou parte do órgão. Terminava assim, na tarde de 17 de outubro de 2010, depois de 25 minutos, a primeira cirurgia inteiramente realizada por robôs, sem a presença física de nenhum médico.
Avanços tecnológicos assim têm mudado radicalmente o papel do médico. Robôs superprecisos e minimamente invasivos se colocam entre o cirurgião e o paciente. Equipes internacionais tomam decisões em teleconferências. Atendimentos online dispensam a visita ao consultório. Casas recebem equipamentos que transformam o quarto numa enfermaria. E dúvidas corriqueiras são resolvidas – ou pioradas – no Google.
• 73 mil das 85 mil cirurgias de câncer de próstata nos EUA em 2009 foram feitas com a assistência de robô.
• 136 mil procedimentos cirúrgicos foram realizados com o sistema robotizado DaVinci no mundo em 2009. Isso dá um aumento de 60% em seu uso nos últimos dois anos.
• 94 sistemas DaVinci já estão instalados no mundo. Já seu concorrente, o Zeus, tem 50 unidades instaladas.
Eu, robô
Os hospitais paulistanos Albert Einstein, Oswaldo Cruz e Sírio-Libanês já usam robôs nas salas de cirurgia. Para manipular o DaVinci, como ele é batizado, o médico senta-se de frente para um console com dois controles semelhantes às pinças utilizadas em cirurgias. Ele então encaixa a cabeça em um visor 3D para ver imagens aumentadas do interior do corpo, captadas por câmeras controladas por pedais, e começa a cirurgia.
A primeira grande diferença do procedimento comum é que, em vez de grandes cortes para operar um órgão, o DaVinci precisa apenas de pequenas incisões de 1 a 2 centímetros para inserir seus braços mecânicos no interior do corpo. Sob a pele, ele opera ferramentas semelhantes às usadas pelos cirurgiões, mas com menos de 1 centímetro – e movimentos impossíveis para uma mão humana. Para corrigir eventuais tremores do médico, um software ainda filtra seus gestos.
Robôs assim já operam próstata, tireoide, hérnia, ovários, pâncreas e fígado. A grande novidade, no caso do procedimento de Montreal, é seu uso conjugado com o robô McSleepy, que aplica a anestesia, ajuda a calcular a dose exata e ainda monitora a situação do paciente durante o procedimento.
Em 10 anos, esses equipamentos deverão tomar as salas cirúrgicas, acompanhados só por enfermeiros. Isso porque, embora sejam caros, eles cortam outros gastos: com pacientes se recuperando mais rápido, diminui a ocupação de leitos dos hospitais e o paciente corre menos risco de sofrer infecções, avalia o médico brasileiro Chao Lung Wen, coordenador do Núcleo de Telemedicina e Telessaúde do Hospital das Clínicas da USP e membro do Comitê Executivo de Telemedicina e Telessaúde do Ministério da Saúde. “E, sempre que uma tecnologia torna o trabalho mais confortável e barato, ela tem tudo para ficar”, diz Chao.
O passo dado já é grande, mas, enquanto as cirurgias robóticas se tornam comuns, falta muito chão para o mesmo valer para os procedimentos a longa distância. Isso porque a velocidade necessária para uma cirurgia é de, no mínimo, 10 megabites em linha exclusiva.Hoje, as conexões ainda são muito mais lentas e pouco confiáveis. “É muito arriscado quando se corta uma artéria ou uma veia, por exemplo. Um segundo e meio depois, o médico só vai enxergar o sangue na tela”, diz Wen.
Enquanto isso, robôs ganham os corredores de hospitais. Eles já são usados há 5 anos para carregar roupas e equipamentos nos países desenvolvidos, mas começa a surgir agora uma nova geração, que interage com os pacientes. Eles serão úteis não só nos hospitais como também nas casas, para cuidar de pessoas idosas e doentes. O governo japonês iniciou em 2009 um megaprojeto de pesquisa nessa área, e lançamentos devem chegar em 2014.
“Em 10 anos, já estaremos acostumados a esses robôs-enfermeiros”, diz Robert Freitas Jr., um dos maiores especialistas em nanorrobótica e pesquisador do instituto de pesquisas Molecular Manufacturing, em Palo Alto, EUA.
Na rede
Com as novas tecnologias, mudou também o comportamento de pacientes. Não dá para ignorar que o “Doutor Google” quebrou, ainda que de forma imperfeita, o monopólio dos médicos sobre o conhecimento de saúde. Todos os anos nos EUA, 180 milhões de pessoas usam a web para pesquisar sintomas, conversar com outros pacientes e se armar com questões para o doutor. Há até ferramentas de busca só para sintomas, verificadas e aprovadas por uma fundação chamada Health on the Net.
“Desde Hipócrates nos acostumamos a ficar em uma situação de superioridade diante dos pacientes. Agora eles estão mais bem informados e mais críticos”, diz o médico americano William Hanson, autor de The Edge of Medicine (“O Limite da Medicina”, sem tradução). Mas isso não traz sérios riscos de autodiagnóstico e automedicação? “Em um primeiro momento, pessoas vão cometer exageros, confiar demais em informações duvidosas, usar medicamentos errados”, afirma. “Mas a próxima geração terá mais naturalidade e segurança para lidar com o volume de informações da rede.”
Por outro lado, redes sociais também podem aproximar pacientes e médicos. O caso mais conhecido é o do nova-iorquino Jay Perkinson. Depois de uma primeira visita domiciliar, ele acompanha seus pacientes por e-mail, MSN ou videoconferências – uma ideia que tem sido copiada por verdadeiros Facebooks da saúde.
Os próprios médicos aderiram à internet para compartilhar experiências e casos médicos. “Antes, os únicos meios para trocarmos informações eram revistas especializadas, livros e conferências. Com a telemedicina, conseguimos trocar ideias com os colegas até mesmo na sala cirúrgica”, diz Alex Nason, do Johns Hopkins Hospital, nos EUA.
Sites voltados para médicos, como os americanos Diagnosaurus, Isabel e SimulConsult, reúnem históricos de pacientes e descrições detalhadas dos tratamentos realizados com sucesso ou fracasso. “Com o grande volume de estudos e avanços divulgados todos os meses, a internet é a única forma que um médico tem de se manter atualizado”, diz Josep Paradells, pesquisador da Universidade da Catalunha, na Espanha.
E o Brasil se mantém atualizado nesse ponto. Em São Paulo, o projeto Estação Digital Médica – um sistema de teleassistência na internet – permite compartilhar fichas médicas de pacientes e trocar informações entre médicos e alunos de 8 faculdades, coordenadas pela USP. Ali, qualquer médico pode pedir uma segunda opinião de especialistas respeitados em suas áreas de atuação. E o projeto deverá dobrar o número de faculdades parceiras nos próximos 5 anos.
O próximo passo é compartilhar online arquivos com imagens de exames. Já há sistemas que conectam hospitais em rede e permitem que um único exame seja avaliado por vários especialistas. Agora falta só definir um padrão tecnológico único para globalizar essa rede.
“Imagine o impacto em centros médicos menores, em regiões mais afastadas, que não têm médicos de todas as especialidades”, diz Oscar Casas, outro pesquisador da Universidade da Catalunha. “Um exame feito na África do Sul poderá ser analisado por colegas espalhados nos mais diversos cantos do mundo.”
Fim do hospital
Quando isoladas, essas tecnologias parecem mais uma evolução da medicina, e não uma revolução. Mas isso muda se somarmos todas elas: automação, meios de comunicação instantâneos e maior autonomia de pacientes em relação à sua saúde. É o que tem sido experimentado pelo pesquisador Oscar Casas com seu laboratório caseiro online. O próprio paciente ou seus familiares – e, no futuro próximo, robôs – medem o nível de glicose, frequência respiratória, batimentos cardíacos e pressão arterial. Qualquer alteração vai para o smartphone do médico, que instrui a família ou enfermeiros como devem agir com o paciente.
Com esse monitoramento a distância, a enfermaria é transferida do hospital para a casa. Assim, idosos e portadores de doenças crônicas ou degenerativas podem ter uma vida longe do hospital e perto da família, que se compromete com a equipe médica no tratamento. Não apenas a qualidade de vida do paciente melhora como também diminui o risco de infecções hospitalares.
E Oscar Casas não está sozinho. No Japão, em Cingapura, na Coreia do Sul, na Europa e nos EUA, universidades e centros de pesquisa desenvolvem projetos semelhantes. A indústria também não perde tempo. Ela investe, e muito, em novos equipamentos para melhorar a qualidade desse monitoramento. As universidades da Califórnia, nos EUA, e de Leeds, na Inglaterra, testam neste momento protótipos de aparelhos que fazem medições precisas de biomarcadores em casa, com pequenas amostras de sangue ou urina. Para os cardíacos, a holandesa Philips testa um jogo de cama com lençol e fronha que monitoram batimentos cardíacos, respiração e movimentação do corpo do paciente enquanto ele dorme. Tudo em casa.
Futuro do doutor
Repare que, em todas as inovações que mostramos, médicos continuam envolvidos. Eles estão muito longe do fim, mas seu papel está num ponto de virada. O novo médico vai ser, ao mesmo tempo, uma pessoa antenada com as redes sociais da internet, bem informada a respeito de robótica e paciente e humilde no relacionamento com os pacientes.
Para entender essa mudança, primeiramente esqueça a palavra “paciente”. Ela implica uma hierarquia que inevitavelmente vai acabar. “Em 10 anos, os médicos vão preferir chamar pessoas com problemas de saúde de parceiros”, diz o doutor Chao. Outros parceiros que têm ganho mais voz no processo de diagnóstico, cura e manutenção da saúde são nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros – e a família. Tudo indica que, em vez das fichinhas guardadas na gaveta do médico, cada pessoa terá um registro clínico eletrônico, compartilhado por todos os envolvidos no processo de saúde – incluindo você, tão dono das informações sobre sua saúde quanto é hoje dos seus dados bancários.
Além de estar disposto a compartilhar informações e decisões com outros profissionais, o médico terá que dedicar muito mais que os 10 minutinhos de consulta. Para o oncologista americano Stephen C. Schimpff, ex-presidente do Centro Médico da Universidade de Maryland e autor do livro The Future of Medicine (“A Medicina do Futuro”, sem edição em português), teremos uma nova geração de médicos de família high-tech. Eles conhecerão bem o histórico das pessoas e usarão todas as ferramentas tecnológicas para encontrar as informações úteis para cada caso – seja buscando um caso semelhante registrado do outro lado do mundo, seja consultando colegas de outras especialidades.
“Do ponto de vista do doente, a nova medicina vai ser personalizada. Para os profissionais da área, será marcada pelo trabalho em equipe num nível inédito”, diz Schimpff. As próprias consultas serão mais longas – o que é bom. “É sabido que o contato com o médico, quando pacífico, tem um grande efeito terapêutico”, afirma.
Para várias especialidades médicas, não estudar robótica vai significar não fazer cirurgia. “Até porque o bom cirurgião não será mais avaliado pela sua capacidade de fazer cortes precisos, já que nem o mais exímio deles poderá fazer incisões mais hábeis do que qualquer máquina, mas, sim, pela sua capacidade de diagnosticar mais rapidamente o problema do paciente e coordenar bem o processo cirúrgico”, diz Alex Nason, do Johns Hopkins Hospital.
E as faculdades de medicina? Elas estão prontas para essa nova realidade? Algumas, sim. A Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins, por exemplo, criou um centro de simulação com programas de realidade virtual que deixam vários games com cara de velhos. O médico se vê dentro de uma cirurgia em uma enorme tela de HD, enquanto manipula um manequim humano que infla o peito de ar, emite o som das batidas do coração e simula sinais vitais no pulso. Se o aluno errar, vê na tela seu paciente perder pulso e correr risco de morte. Com isso, treina o uso da técnica e também suas próprias reações diante de situações extremas.
Já a Faculdade de Medicina da USP oferece desde 1998 a disciplina de Telemedicina. Ali, os estudantes se informam sobre os avanços no atendimento a distância e participam de simulações de atendimentos usando redes sociais.
Mas há uma má notícia. Segundo Chao, a telemedicina deve demorar 15 anos para se popularizar no Brasil. “Ainda falta formar melhor os professores, que na maioria dos casos são médicos com muita experiência, mas pouco contato com tecnologia”, diz. Mas, para o doutor Schimpff, a mudança é inevitável.
“No século 19, a medicina consistia no diagnóstico e na redução dos efeitos das doenças. No século 20, passamos a tratar com sucesso grande parte dos problemas de saúde. Agora estamos no limiar do atendimento multidisciplinar e personalizado”, diz Schimpff. “E o médico que não se atualizar terá problemas em manter seus pacientes.”

 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO