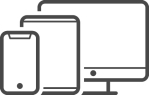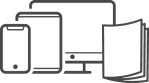Paxlovid é diferente dos outros medicamentos desenvolvidos contra o Sars-CoV-2 – e primeiro a ter todas as cinco características desejáveis em uma droga anti-coronavírus; remédio pode complementar as vacinas, fazendo com que a Covid deixe de ser uma ameaça
Você já deve ter ouvido falar dele. Escrevemos sobre esse medicamento em setembro, quando tinha o nome provisório de PF-07321332 e estava entrando na última fase de testes clínicos. Na semana passada, a Pfizer anunciou o resultado desses testes: a droga, que foi batizada de Paxlovid, reduziu em 89% os casos de hospitalização por Covid-19, e as mortes em 100%. São números impressionantes, que ganharam as manchetes da imprensa. O que você talvez não saiba é que o novo medicamento, que já foi submetido à aprovação da FDA, não é só mais um. Ele tem características muito diferentes dos outros antivirais desenvolvidos contra o coronavírus – e, por isso, pode ser decisivo para o fim da pandemia.
As vacinas são excelentes, mas não são perfeitas. Elas não são 100% eficazes, e com o tempo vão perdendo a efetividade contra infecção pelo Sars-CoV-2 (embora continuem protegendo contra Covid grave). Nem sempre funcionam bem em pessoas imunodeprimidas, com o sistema imunológico prejudicado. E há indivíduos que se recusam a tomá-las – uma questão especialmente grave em países como os EUA e a Rússia. Por isso, as vacinas não podem ser a única arma farmacológica contra a pandemia. Também é altamente desejável que existam medicamentos antivirais.
O pioneiro foi o remdesivir, do laboratório americano Gilead. Ele foi aprovado já no começo da pandemia, em maio de 2020 (o ex-presidente americano Donald Trump recebeu o medicamento ao ser diagnosticado com Covid, em outubro daquele ano). De lá para cá, o remdesivir foi se tornando relativamente comum nos EUA. Mas tem vários problemas.
O primeiro é que ele é relativamente difícil de fabricar. O processo leva meses, requer mais de 70 ingredientes e reagentes – e tem uma etapa que, se não for cuidadosamente controlada, pode levar à formação de tricloreto de nitrogênio, altamente explosivo. O segundo problema é que o remdesivir é uma infusão intravenosa, ou seja, só pode ser aplicado em hospital, o que acaba limitando o uso.
Mas o principal é que ele não é muito eficaz. Não foi bem nos testes clínicos organizados pela OMS – o que levou a entidade a afirmar que o remdesivir tem “pouco ou nenhum efeito” nas taxas de sobrevivência dos pacientes de Covid (a Gilead questiona essa conclusão, dizendo que o estudo da OMS foi mal desenhado, e apresenta números diferentes). Em suma, há uma polêmica.

Mais recentemente, surgiu um segundo antiviral: o molnupiravir, do laboratório americano Merck (conhecido como MSD fora dos Estados Unidos). Ao contrário do remdesivir, ele é administrado por via oral. Isso muda tudo: reduz bastante o custo e permite que os médicos receitem a droga a muito mais pacientes, logo após o diagnóstico. O molnupiravir também é mais fácil de fabricar – a MSD já estaria em negociação com a Fiocruz para produzi-lo no Brasil, inclusive.
E, aparentemente, ele é bem mais eficaz do que o remdesivir: em um teste clínico realizado pela Merck nos EUA com 72 voluntários que haviam contraído o Sars-CoV-2, nenhuma das pessoas que tomaram o remédio tinha o vírus no organismo após cinco dias de tratamento (contra 24% dos que receberam placebo). O molnupiravir já foi liberado no Reino Unido, e será avaliado pela FDA no fim de novembro – se aprovado, o governo americano irá comprar 3,1 milhão de doses do medicamento.
Mas ele também tem um porém. Quando o coronavírus vai se replicar, o medicamento se insere no código genético dele, provocando erros que impedem a duplicação do vírus. É um mecanismo bem interessante, que explicamos em detalhes aqui. Porém, há o receio de que esse processo também possa interferir com a transcrição do código genético humano, resultando em mutações no DNA.
Essa preocupação foi manifestada pelos próprios criadores da droga, uma equipe de cientistas da Emory University, nos EUA. E num estudo in vitro, com células de hamster, o molnupiravir de fato provocou mutações em um gene. Já in vivo, com a droga fornecida aos animais por via oral, isso não ocorreu (leia mais sobre os dois testes).
A Merck diz que não há risco. E provavelmente não há mesmo, ou a droga teria sido abandonada já durante os testes em animais, sem chegar a humanos. Mas a mutagenicidade é difícil de testar e descartar: exigiria análises genéticas profundas, com o monitoramento de muitos genes, e um acompanhamento dos voluntários por longo período (já que eventuais consequências de mutações, como câncer, podem só se manifestar anos mais tarde).
Também há quem tema que, ao induzir erros na replicação do vírus, o molnupiravir possa acabar contribuindo para o surgimento de novas variantes do vírus. Isso é pouco provável, já que o medicamento dizima o Sars-CoV-2 presente no organismo (não sobra vírus para adquirir mutações e ‘contar a história’). Mas, de toda forma, há questões envolvendo o molnupiravir.
Talvez fosse melhor ter um antiviral com outro mecanismo de ação, que não envolva a inserção de erros no código genético do Sars-CoV-2. É o caso do medicamento desenvolvido pela Pfizer. Ele também é administrado por via oral, em cápsulas, mas funciona de modo totalmente diferente. É um inibidor de protease: neutraliza uma enzima, a 3CL, que o vírus usa para se replicar.

Quando o coronavírus invade uma célula, o RNA dele forma um polipeptídeo: uma cadeia de aminoácidos que contém todo o material genético do vírus. Mas, para que essa cadeia se transforme num novo vírion (unidade do vírus), ela precisa ser cortada em pedaços – e quem faz isso é a protease 3CL, que o próprio vírus carrega. Se você inibir essa enzima, ele não consegue se replicar.
Os inibidores de protease são usados há muitos anos, com sucesso, para conter o HIV e o vírus da hepatite C. Eles são seguros, têm poucos efeitos colaterais, e a vantagem de não agir diretamente sobre código genético (seja do vírus ou do hospedeiro). O Paxlovid combina dois inibidores: o PF-07321332 e o ritonavir (que isoladamente não é eficaz contra o coronavírus, mas serve para prolongar a ação da outra molécula).
Como o medicamento age sobre uma enzima, e não sobre a estrutura principal do vírus, é pouco provável que o Sars-CoV-2 desenvolva resistência a ele. O vírus precisaria alterar a própria protease, algo mais complexo do que os dribles em anticorpos que ele dá corriqueiramente. Essa mutação até já foi detectada em outros coronavírus – mas acaba sendo terrível para eles, que ficam fracos e com dificuldade de se replicar. Também seria possível reduzir ainda mais o risco de resistência combinando a droga com outro inibidor de protease (como é feito no ‘coquetel’ anti-HIV).
Em suma: o Paxlovid aparentemente tem todas as cinco características desejáveis num medicamento anti-coronavírus (administração oral, mecanismo de ação consagrado, bom perfil de segurança, alta eficácia e resistência à evolução viral). Por isso, ele pode ser o primeiro a realmente servir de complemento às vacinas, e funcionar como uma “rede de segurança” para os casos em que elas não forem suficientes – como os de pessoas que se vacinaram e mesmo assim pegaram o vírus, gente que não aceita se vacinar ou indivíduos imunodeprimidos.
Quando/se isso se concretizar, e a nova droga for liberada para chegar ao mercado, o Sars-CoV-2 finalmente deixará de ser uma ameaça assustadora – e estará aberto o caminho para o fim da pandemia.


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO


 O Taiti, do surfe nas Olimpíadas, é uma colônia da França? Entenda.
O Taiti, do surfe nas Olimpíadas, é uma colônia da França? Entenda. A teoria psicológica dos anos 1980 que pode ter inspirado Divertida Mente
A teoria psicológica dos anos 1980 que pode ter inspirado Divertida Mente Playlist: 5 coisas para ler, ver e jogar em abril
Playlist: 5 coisas para ler, ver e jogar em abril Como funciona o time de atletas refugiados nas Olimpíadas?
Como funciona o time de atletas refugiados nas Olimpíadas?





![[BF2024] - Paywall - DESKTOP - 728x90](https://gutenberg.super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/10/BF2024-Paywall-DESKTOP-728x90-1.gif)
![[BF2024] - Paywall - MOBILE - 328x79](https://gutenberg.super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/10/BF2024-Paywall-MOBILE-328x79-1.gif)