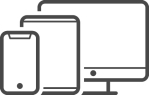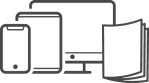Até pode, mas é um procedimento nada comum.
A transfusão de sangue entre cadáveres e pacientes vivos chegou a ser defendida por médicos na primeira metade do século 20. Contudo, ela não emplacou nem mesmo na extinta União Soviética, onde surgiu – limitando-se a tentativas isoladas em outros países nas décadas seguintes sem nunca ser incorporada de fato como método de tratamento.
O primeiro teste com humanos foi feito pelo cirurgião russo Sergei Yudin, em 1930. Ele alegou ter salvo um homem que tentou suicídio usando 420 mL de sangue retirado de um cadáver de 60 anos – que fora conservado por seis horas a baixas temperaturas. Segundo consta na literatura científica da época, o médico teria repetido o procedimento milhares de vezes com outros pacientes. O esforço de Yudin e seus colegas não foi em vão. Graças às pesquisas na área, reuniu-se o conhecimento de conservação necessário para a criação dos primeiros “bancos de sangue”. Hoje, estima-se que 3,5 milhões de transfusões aconteçam todos os anos só no Brasil, graças a doações voluntárias.
As doações feitas por pessoas vivas seguem sendo a forma mais popular de se obter sangue para transfusões. Isso acontece por uma série de motivos. O primeiro deles é a segurança. Quem já doou sangue sabe que, antes da agulhada, há uma série de perguntas que precisam ser respondidas em uma entrevista com um especialista. Pessoas anêmicas, lactantes, usuários de drogas ou que fizeram tatuagem recentemente, por exemplo, costumam ser impedidos de doar, já que podem ter alterações no organismo que comprometem o sangue. Fazendo isso, garante-se que o material coletado não esteja contaminado e acabe descartado após análise em laboratório – diminuindo custos e tempo.
Como muitas pessoas que morrem obviamente não estão saudáveis, não há uma forma de garantir a procedência do sangue sem testes de laboratório. A chance de que o sangue seja aproveitado, nesse caso, diminui. Mas, antes mesmo dessa etapa, um problema ainda maior é preservar o sangue do morto intacto.
O sangue foi feito para ficar circulando dentro dos vasos sanguíneos. Quando pára devido a alguma obstrução ou fica fora da veia, ele coagula – o que altera, também, a proporção de plaquetas, hemácias, e glóbulos brancos em sua composição. A chamada coagulação post-mortem de cadáveres já começa cerca de 5 minutos depois que o coração para de bater. Um sangue coagulado, como você pode imaginar, é muito mais difícil de ser extraído e não serve para executar as funções sanguíneas corretamente.
Com a ajuda de aparelhos, dá para manter o sangue de um morto circulando sem que apareçam coágulos. O método é amplamente usado para a doação de órgãos: uma pessoa diagnosticada com morte encefálica fica com suas funções normais até que seja hora de fazer a cirurgia de retirada. Ter uma abordagem do tipo, no entanto, implicaria incluir o sangue em questões éticas que existem para os órgãos – como a necessidade de autorização da família. Algo que, de novo, atrasaria o processo.
Como você pode imaginar, manter um corpo sem vida funcionando é uma operação custosa financeiramente. Se tratando de um coração ou de um pulmão, contudo, o custo até vale a pena, já que órgãos não podem ser criados do zero e são insubstituíveis. O sangue, por outro lado, é um tecido que se regenera muito rápido. A solução médica mais prática, assim, acaba sendo contar com voluntários dispostos a compartilhar módicos 450 mL de seu sangue de tempos em tempos. Uma pessoa pode doar até quatro vezes por ano sem prejuízos para a saúde, e cada doação pode salvar quatro vidas.
Fontes: Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo e Luiz Fernando Ferraz da Silva, professor de patologia clínica da USP.
Pergunta enviada por Eduardo Gloria, de Rio Grande (RS)


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO


 O Taiti, do surfe nas Olimpíadas, é uma colônia da França? Entenda.
O Taiti, do surfe nas Olimpíadas, é uma colônia da França? Entenda. A teoria psicológica dos anos 1980 que pode ter inspirado Divertida Mente
A teoria psicológica dos anos 1980 que pode ter inspirado Divertida Mente Como funciona o time de atletas refugiados nas Olimpíadas?
Como funciona o time de atletas refugiados nas Olimpíadas? Playlist: 5 coisas para ler, ver e jogar em abril
Playlist: 5 coisas para ler, ver e jogar em abril





![[BF2024] - Paywall - DESKTOP - 728x90](https://gutenberg.super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/10/BF2024-Paywall-DESKTOP-728x90-1.gif)
![[BF2024] - Paywall - MOBILE - 328x79](https://gutenberg.super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/10/BF2024-Paywall-MOBILE-328x79-1.gif)