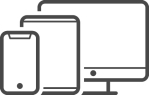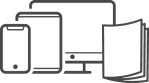Uma luz brilhou no canto dos olhos. Achei que fosse o celular. Notificação de rede social, aviso do calendário gravado em outro momento ou uma mensagem qualquer piscando? Não. Era o Sol refletido em meus óculos escuros espelhados. Só não foi mais triste do que cafona.
Vivi em um tempo em que José Sarney era o presidente de um país cuja economia não inspirava confiança. Um ano em que Charlie Sheen era o galã respeitado de Platoon e restaurante japonês era uma excentricidade que começava a virar moda. Por 7 dias, afastei-me da tecnologia, da cultura e da moda atuais para viver como em 1987, quando a SUPER nasceu. Logo, não tinha notificação de rede social alguma, pois rede social não havia. Era um ano distante. Não teria à disposição pendrive, hd externo ou cds graváveis. Porque computador existia, mas era de pouca utilidade prática para os mortais. Sem smartphone. Telefone? Fixo – e se fosse de tecla já estava bom, porque muitos eram de disco. Sem TV a cabo e dvd, sem led ou LCD. Reconhecimento facial, telas sensíveis a toque, 10 mil músicas no bolso? Ficção científica. Videogame era com joystick e cartucho. Em casa, tinha TV de tubo, videocassete, vitrola, walkman e pilhas amarelas. Mudei o visual dos pés à cabeça (com direito a gel no cabelo). E aí entraram os óculos espelhados. Deram um ar chocante ao meu visual transado*. Mas fizeram mais. Sugeriram uma reavaliação sobre minha vida. Eu sentia o espectro do iPhone por perto. Algo não estava bem.
NU COM A MÃO NO BOL
“Que legal, estou ligando na sua casa!”, diz uma amiga ao me telefonar. Não é emoção forçada. É algo diferente. O telefone de casa só toca quando é parente (ou telemarketing). Mas, desconectado do mundo, o único jeito de falarem comigo era como em 1987. Foi assim que marquei de sair para o agito. Sem o celular e a banalização de mensagens gratuitas de aplicativos como WhatsApp, era preciso agendar a programação para valer. Porque, sem perceber, muitas vezes marcamos de mandar uma mensagem para se falar mais tarde, para depois dizer que estamos saindo de casa e então mandar outra mensagem falando que estamos na porta esperando (sem tocar a campainha). Empurramos com a barriga, como se o imperativo da agenda virasse um gerúndio. Tive de mudar. “Passem às 21h em casa”, disse na véspera. Vesti uma T-shirt muito louca, mas, como ninguém apareceu ou ligou, apelei ao porteiro. “Se alguém passar aqui, por favor diga que estou no bar da esquina esperando”. Demoraram, mas chegaram. Porém, a festa aonde íamos ficava distante 24 quilômetros. E só sei isso porque o motorista se recusou a usar um mapa e ligou o GPS. “Quem está nos anos 80 é você. Não quero me perder”. Foi-se a aventura radical, mas graças a isso chegamos a tempo da curtição – afinal, sem celular, não dava para saber facilmente como estava a festa nem quem estava lá.
Você se lembra de 1987? Não era nem nascido? Veja aqui uma galeria com imagens radicais da época
Ficar sem um smartphone não me deixava apenas mais difícil de ser encontrado, mas também dificultava a minha vida para achar as pessoas. Não só porque eu não podia ligar no celular de ninguém (afinal, eles só começaram a se popularizar no Brasil em 1998), mas porque, simplesmente, muita gente abandonou o telefone fixo. O que já foi sinônimo de status hoje é quase supérfluo. Dados da Agência Nacional de Telecomunicações mostram que o número de linhas de telefone celular dobrou de 2008 a 2012. Já o número de linhas fixas caiu de 35 milhões para 30 milhões no mesmo período. Ou seja, a maioria das pessoas tem um celular e não tem um fixo. Logo, é comum não conseguir falar com alguém a não ser que você ligue para o celular. E, se ficar sem um aparelho cuja principal função é falar e ouvir já é uma mudança, abster-se de um em que telefonar é algo secundário piora a situação. Sem smartphone, você pode se sentir invisível. “Pelado, pelado”, como cantava o Ultraje a Rigor nesse grande sucesso de 1987, tema da novela Brega e Chique.
Para não desaparecer socialmente, pela primeira vez na vida levei a sério um aparelho que se popularizou no fim dos anos 1980, a secretária eletrônica. Se antes eu relutava com comentários do tipo “mas por que você ainda usa isso, pai?”, agora eu tinha de checá-la ao chegar em casa. Quase nunca tinha recado. Afinal, só minha família recorre à secretária. A rapeize usa outros meios. Falamos com os dedos e com eles deixamos recados. Eis a dádiva do SMS. Ou maldição?
A psicóloga Sherry Turckle, do MIT, nos Estados Unidos, defende que mensagens de texto nos escondem a uma distância que possibilita que editemos nossa imagem. Há menos espontaneidade na conversa. Resolvi testar. Impossibilitado de escrever (a não ser que usasse os Correios), tive de chamar uma garota para sair à moda antiga: ligando na casa dela. Todos meus últimos relacionamentos, das declarações às brigas e às pazes, tiveram grande participação, ou culpa, do SMS. Nem lembrava como é ligar na casa de uma mulher. Podia ensaiar um papo para azarar a gatinha, mas não é a mesma coisa quando escrevemos e reescrevemos algo antes de enviar. É mais fluido. Não poderia gaguejar ou deixar o silêncio vir à tona. Mas nada disso aconteceu. Ela não atendeu.
Isso despertou uma sensação diferente. Não é como deixar um recado no Facebook ou no WhatsApp, ver que a mensagem foi entregue (porque eles permitem isso) e esperar resposta. Não há o que esperar. Apenas tentar de novo mais tarde. É sua única ferramenta. Portanto, se não há o que esperar, não há ansiedade. O excesso de meios de se comunicar com as pessoas pode nos deixar assim. Se é fácil encontrar qualquer pessoa, o menor sinal da possibilidade de ficar no vácuo provoca isso. Em outro estudo, a maioria das pessoas analisadas checa o celular ou as redes sociais “o tempo todo ou a cada 15 minutos”. É um comportamento de dependência, de acordo com pesquisadores da Universidade Stanford, nos EUA. Cada piscadela na telinha do smartphone pode ser uma oportunidade social, sexual ou profissional. Isso significa pequenas recompensas ao cérebro, doses frequentes de dopamina que dão a mesma sensação de ganhar no cassino, segundo um artigo da revista Scientific American.
A culpa é nossa. Mandamos 4 vezes mais mensagens que em 2007. São 400 todo mês. Os adolescentes americanos têm uma média de 3,7 mil a cada 30 dias. Em uma semana, logo que recuperei meu celular, eram 767 notificações (sem contar os e-mails). E, mesmo perdendo tantas novidades de arrepiar, não dei falta de nada. Afinal, conseguia falar com os amigos mais próximos, marcar programas, me informar. Então parecia que era só uma grossa camada de gordura de conversa fiada e excesso de conteúdo que eu tirava do dia a dia. O essencial permanecia. Só que eu não estava acostumado com esse silêncio. Meu cotidiano é o apito do celular e a tela que pisca notificando algo com o qual eu vivia muito bem sem há um ano. Imaginar o iPhone do lado ou achar que ele está tocando é algo tão comum que tem nome: síndrome da vibração fantasma (eu cheguei ao ponto de achar que ouvia o meu penúltimo celular tocando). Se já sentiu isso, você também é, nas palavras de Sherry Turkle, um ciborgue. Não um Robocop, grande sucesso no cinema em 1987. Mas algo mais factível, como alguém que checa os e-mails antes de levantar da cama, prática comum entre um terço dos donos de smartphones. Talvez por isso eu tenha sentido uma certa leveza durante essa clínica de reabilitação digital. Sair de casa sem celular dá um ar de liberdade. Mas limita muita coisa. Como flagrar um mendigo ao lado de um grafite com mensagens positivas de autoajuda. Ironia urbana, boa combinação para ganhar likes no Instagram. Senti o vazio no bolso. E me contive em usar a câmera analógica, preocupado em não acabar o filme de 24 poses. Afinal, não foi só na comunicação que a tecnologia mudou nesses 25 anos.
TÔ CANSADO DE ME CANSAR
Tô Cansado é um dos hits de Cabeça Dinossauro, disco de 1986 dos Titãs que ainda fazia grande sucesso no ano seguinte. Aliás, era normal filmes, livros, jogos e LPs de anos anteriores figurarem no topo das paradas. Por exemplo: eu achava que ouviria muito Guns n´Roses, mas meu colega de baia Alexandre Versignassi, ex-editor da revista FLASHBACK, cortou meu barato. Não tinha Appetite for Destruction no Brasil, por mais que o disco de estreia da banda seja de 1987.
Demorava mais. Além de não haver internet para você ver o clipe novo daquela banda naquele blog esperto de música, o Brasil integrava um time de países periféricos chamado Terceiro Mundo. Então as novidades ficavam por conta dos artistas nacionais, como Fausto Fawcett ou Luiz Caldas, maior sucesso daquele Carnaval. Discos estrangeiros tardavam em chegar. Às vezes muito, como Rocket to Russia, dos Ramones, que demorou 10 anos. Mas a galera se divertia à beça, mesmo que com menos opções de entretenimento (no Natal de 1987, havia 25 filmes em cartaz em São Paulo. Hoje há quase o dobro). Em televisores de marcas como Telefunken, assistiam à programação da TV aberta. “A Sessão da Tarde não exibia só produções aborrecentes”, lembra José Marques Neto, colecionador de VHS e dono do blog Mofo TV.
A grande tecnologia caseira era o videocassete de marcas como Philco Hitachi, JVC, Sharp ou Semp Toshiba. As pessoas ligavam para pizzarias que também entregavam filmes e pediam o combo mais popular do ano: moçarela com VHS de Falcão. Entrei nesse clima, comprei vinis do ano com cheque (cartão de crédito era raro), fiz pipoca na panela, tomei Guaraná e chamei a rapaziada para ver uns filmes. Gostei e esqueci o quanto xingava meu vídeo antigo quando ele comia a fita. E aí percebi que também brigo com o aparelho de DVD pelo mesmo motivo. Mudam as tecnologias, mas a frustração quando eles não correspondem às expectativas é igual. Também me empolguei com o K-7 que gravei com sucessos do ano. E, como dá muito mais trabalho do que montar uma lista no iTunes ou uma mixtape sem se preocupar com o tamanho das músicas, valorizei o esforço e dei uma festa para a turma ouvir a gravação (que ficou ruim). Sem criar evento no Facebook. Bastam telefone e convite por escrito. Eu ofereceria Keep Cooler, vinho gaseificado lançado em 1987, e uísque nacionalizado, que era importado, mas engarrafado aqui (o consumo da bebida estava em alta, com um crescimento de 45% em dois anos). Além disso, muitos vinis. Mas eles quase acabaram com a noite. A agulha havia quebrado na véspera e eu penei para consertá-la a tempo, sem celular e internet. Discos são legais, mas a fragilidade da tecnologia deixa uma desagradável camada de poeira nessa nostalgia.
Os convidados levaram cerveja, mas em latas de alumínio. Sinal dos tempos. “Latinha era de ferro”, diz Luiz André Alzer, autor do Almanaque Anos 80. Mas no fim deu tudo certo, com direito a uma cortina de fumaça na sala, pois ninguém se preocupava em fumar em locais fechados. Eu tinha vontade de atualizar o status no Facebook e registrar o evento no Instagram, mas não podia. No fim, nem queria mais. Percebi que me identificava com outra pesquisa feita nos EUA, em que a maioria dos entrevistados se dizia “exausta” com o excesso de atividades online. Não me sentia cansado como na música. Estava de folga das redes sociais.
DE VOLTA PARA O FUTURO
Mesmo assim, flagrei-me sorrindo ao ver meu celular de novo. Ou ao reinstalar a TV e sentir como ela é leve. Vários canais HD para ver as Olimpíadas enquanto bebo uma cerveja importada comprada na internet.
No primeiro dia online, estava em uma lanchonete quando recebi um SMS de um amigo ao mesmo tempo em que o vi exatamente na mesa ao lado. Foi coincidência ou ele só mandou aquilo como forma de dizer que estava ali, quando podia me chamar com a boca? Tanto faz. É isso que a tecnologia de hoje permite. Escolha. Até onde a presença dela na vida é saudável, cabe a nós decidir. Não importa em que ano.
A maior parte desta reportagem foi produzida como se fazia em 1987. Não consultei o Google e não usei computador. Durante os 7 dias offline, fiz entrevistas por telefone (de fixo para fixo, o que dificultou um bocado) ou ao vivo. O texto foi datilografado, mas, devido à minha habilidade galinácea com a máquina de escrever, recorri ao computador (após a semana, é claro) para terminar, sob a ameaça de não entregar o material a tempo. As fotos são analógicas, feitas em câmeras Nikon FM2 e Hasselblad, com filmes Kodak e Fuji. A maior dificuldade foi, além da expectativa de não ver o resultado na hora, trabalhar com um número limitado de imagens – e não com centenas, quando há espaçosos cartões de memória. Não há Photoshop ou outro tratamento nas fotos. Além disso, precisei adaptar-me ao visual de um jornalista dos anos 1980. Após consultar colegas da época, sujeitei-me a calças de cintura alta, camisas de tecidos sintéticos, meias sempre brancas e um bigode esculpido pela navalha e tratado a gilete de duas lâminas. Para completar, desodorante Avanço e sabonete Phebo. Já no terceiro dia, a sensação de festa a fantasia que ainda não acabara era estressante. Algumas pessoas não me reconheciam. Ao visitar meus avós, o porteiro relutou em abrir porque achava que eu era corretor de imóveis. No fim, sentia mais saudade de usar calça abaixo do umbigo do que do celular ou da TV.



 O Taiti, do surfe nas Olimpíadas, é uma colônia da França? Entenda.
O Taiti, do surfe nas Olimpíadas, é uma colônia da França? Entenda. A teoria psicológica dos anos 1980 que pode ter inspirado Divertida Mente
A teoria psicológica dos anos 1980 que pode ter inspirado Divertida Mente Playlist: 5 coisas para ler, ver e jogar em abril
Playlist: 5 coisas para ler, ver e jogar em abril Como funciona o time de atletas refugiados nas Olimpíadas?
Como funciona o time de atletas refugiados nas Olimpíadas?





![[BF2024] - Paywall - DESKTOP - 728x90](https://gutenberg.super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/10/BF2024-Paywall-DESKTOP-728x90-1.gif)
![[BF2024] - Paywall - MOBILE - 328x79](https://gutenberg.super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/10/BF2024-Paywall-MOBILE-328x79-1.gif)