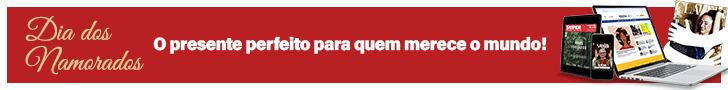Nesta quinta-feira (22), na sugestiva data em que se comemora o Dia da Terra, uma reunião de cúpula de líderes mundiais convocada pelo presidente dos EUA, Joe Biden, tenta alavancar ações concretas contra a ameaça existencial representada pelas mudanças climáticas. É, de forma bem literal, uma espécie de hora da verdade para a espécie humana. Os avisos estão lançados há décadas, e o tempo para ação se esvai. Ou começamos a falar sério sobre o tema, ou seremos atropelados pela realidade.
De certa forma, lembra o que estamos vivendo atualmente com a pandemia. Quem levou a sério a ameaça e agiu de forma apropriadamente cautelosa se deu melhor. Há casos espetaculares de sucesso, como Coreia do Sul e Nova Zelândia. Mas também há demonstrações cabais do que o negacionismo e o “deixar rolar” podem trazer. O Brasil, infelizmente, é um dos piores exemplos nessa lista.
As mudanças climáticas, contudo, trazem duas diferenças fundamentais: a primeira é que ocorrem em “câmera lenta”, se comparadas à pandemia. Enquanto reaberturas desastradas para a circulação de pessoas causam picos de novas mortes em coisa de três semanas, emissões irresponsáveis de gases-estufa promovem o aquecimento da Terra dali a décadas.
E a segunda é que o combate ao aquecimento global não tem vencedores ou perdedores.

Um vírus carregado por humanos pode ser barrado nas fronteiras. Basta impedir a entrada de humanos de fora (como fazem basicamente todos os países hoje, em algum grau). Mas gases na atmosfera têm livre trânsito. O preço é sempre pago por todo o planeta – não teremos “mais aquecimento global” na Suécia e menos na Austrália, obviamente. A conta chega para todos.
São diferenças fundamentais, que tornam mais difícil a proteção ao clima do que o combate a pandemia. Mas, com a cúpula apresentada por Biden, há uma sinalização importante que nos coloca ao menos na trilha certa: as maiores economias do planeta estão remando juntas. Não era o caso até bem pouco tempo atrás.
Não custa lembrar que, há meros quatro anos, em 2017, o então presidente Donald Trump, notório negacionista (que chegou a atribuir a mudanças climáticas a uma conspiração chinesa), retirou os EUA do Acordo de Paris, grande pacto internacional de ação contra o aquecimento global, por supostamente ser prejudicial à economia americana. Detalhe irônico: pelo acerto de Paris, cada nação proporia sua própria meta de redução de emissões.
Joe Biden fez de um de seus primeiros atos na Presidência, no primeiro dia do mandato, em 20 de janeiro de 2021, o retorno ao acordo internacional, que tem por objetivo conter o aquecimento a até 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais (preferencialmente, 1,5 grau).

O limite de 2 graus é tido como o ponto em que transformações catastróficas tornam-se inevitáveis, com o aumento de eventos climáticos extremos, derretimento de gelo polar, aumento do nível do mar e alteração significativa nos mais diversos habitats, com impactos brutais não só para a biodiversidade, mas para a agricultura. Em resumo: uma tragédia capaz de impactar centenas de milhões de humanos e um sem-número de espécies que hoje habitam nosso planeta.
O retorno dos EUA ao Acordo de Paris é uma ótima notícia, mas insuficiente. Até porque, a despeito do poderio econômico americano, o país é o segundo maior emissor de gases de efeito-estufa, principalmente CO2. O primeiro é a China.
A grande notícia que antecedeu a cúpula de líderes foi uma declaração conjunta dada em 17 de abril pelos governos americano e chinês, numa rara demonstração de cooperação entre dois países. O comunicado partiu de John Kerry, enviado de Biden a Xangai para tratar sobre assuntos relacionados ao clima, e Xie Zhenhua, representante climático da China, e traz uma mensagem alvissareira: diz que os dois países vão “combater as mudanças no clima com a seriedade e a urgência que o problema exige”.
A China responde por 28% das emissões globais, e os EUA, por 15%. Juntos, são quase metade do total. A solução tem de passar por ambos. E não só por eles. “Os dois devem trabalhar em conjunto para pressionar outros países a reduzirem emissões”, diz Paulo Artaxo, físico da USP e membro do IPCC, Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas da ONU. “A Europa já está neste caminho. Faltam compromissos mais fortes de Rússia, Brasil e Índia, para termos alguma chance de estabilizarmos as mudanças no clima.”
O QUE E COMO
Declarações de combate às mudanças climáticas, de preferência acompanhadas por reduções nas emissões, são um excelente primeiro passo. Os EUA, sob Biden, estão prometendo reduzir suas emissões em 50% até o fim desta década e atingir a neutralidade de carbono (ou seja, um empate entre o que se emite e o que se sorve de carbono atmosférico) até 2050 – meta que, se atingida em escala global, provavelmente conteria o aquecimento em 1,5 grau Celsius, de acordo com o IPCC.
Caso você esteja se perguntando sobre a urgência e quão perto estamos de atingir esse patamar, aliás, saiba que já estamos 1 grau acima da média pré-industrial, de 1880.
Já os chineses ambicionam se tornar neutros em emissões de carbono em 2060, dez anos depois. Por outro lado, o novo plano econômico chinês, que projeta os próximos cinco anos do país, dá poucos detalhes de como essa meta seria atingida. A China segue aprovando novas usinas a carvão, uma das principais fontes de gás carbônico.
Nos EUA, as ações começam a aprocimar a teoria da prática. Em 31 de março, Biden apresentou um plano de investimentos federais de US$ 2 trilhões ao longo de oito anos para revitalizar a economia americana, com incentivos a energia limpa e transformações na infraestrutura para “esverdear” a matriz energética do país, ainda muito dependente de combustíveis fósseis.
O projeto precisa de aprovação do Congresso, onde deve enfrentar alguma oposição (afinal, ele planeja elevar impostos sobre grandes empresas para pagar a conta), mas prevê uma escala de investimento jamais vista antes para o combate à mudança climática.
Dos US$ 2 trilhões, US$ 174 bilhões serão destinados a estimular o mercado de veículos elétricos, fazendo a transição dos carros a gasolina. Parte desse dinheiro tem por destinação a construção de uma infraestrutura de recarregamento de baterias dos automóveis, um dos desafios para os carros elétricos (é preciso o equivalente elétrico dos postos de gasolina para que os carros movidos a eletricidade possam ter a mesma mobilidade).
Os fabricantes de automóveis já entenderam o recado, e o tempo em que o único jeito de ter um carro elétrico era comprar um veículo caro da Tesla, empresa pioneira no ramo, já ficou no passado. A própria empresa de Elon Musk lançou um veículo “de entrada” para o segmento, o Model 3 (de US$ 35 mil, menos da metade dos modelos anteriores). Os preços ainda não são competitivos. US$ 35 mil dá grossos R$ 200 mil pelo câmbio atual. Mas eles tendem a baixar conforme a produção de baterias de lítio aumenta. A manutenção, pelo menos, é muito mais barata – motores elétricos têm poucas peças; logo, há menos coisas para quebrar.
O fato é que absolutamente todas as montadoras decidiram eletrificar sua frotas. Volkswagen, Mercedes, BMW, Volvo, Ford, Fiat, Renault, Honda, Toyota… Todas têm elétricos à venda, ao menos no mundo desenvolvido, e pretendem ampliar cada vez mais seu portfólio.
Mesmo o mundo dos carros esportivos mergulhou de cabeça na eletrificação. A Porsche lançou recentemente o Taycan, um elétrico de altíssima performance, e preço camarada para os padrões da montadora alemã: US$ 81 mil – menos que o Porsche 911, modelo mais simbólico da marca, que começa em US$ 99 mil.
Na Europa, o empurrão é grande. Diversos países impuseram por lei o fim da produção de carros movidos a combustíveis fósseis nas próximas décadas, e a União Europeia pretende ter 30 milhões de veículos elétricos em circulação até 2030 (eram 1,8 milhão em 2020). A exemplo dos EUA, os europeus ambicionam se tornar carbono-neutros em 2050.

A atualização de redes elétricas também faz parte do ambicioso plano apresentado por Biden. Além de investir mais em fontes eólicas e solares, há um crescimento de tendência no que se chama de geração distribuída: a ideia de que cada casa pode gerar uma certa quantidade de energia solar, não só para uso próprio (armazenado em grandes baterias internas), mas também para comercialização e redistribuição para a rede.
A própria Tesla quis criar esse “trio de ferro”, com carros elétricos, telhas fotovoltaicas capazes de funcionar como painéis solares (tecnologia que veio com a aquisição da empresa SolarCity) e baterias domésticas (chamadas de Powerwall), e há outras companhias vagarosamente entrando no mercado para lhe fazer companhia (como aconteceu com os veículos). Ainda é tudo incipiente, mas parece algo com cara de futuro, e decerto pode ajudar a reduzir emissões nas próximas décadas.
O objetivo final é – e tem de ser – ir trocando a matriz energética que alimenta a civilização, transicionando dos poluentes combustíveis fósseis para formas limpas, com baixas emissões de CO2. Mas ninguém vai fingir que é fácil ou barato. E, como o tempo urge, há quem acredite que podemos já ter cruzado o ponto de não retorno. É fato que o gás carbônico que emitimos hoje continuará impactando na atmosfera por cerca de cem anos, e, a despeito de metas de redução, até hoje só vimos crescimento de emissões, em todo o canto. E aí? E se já for mesmo tarde demais?
A SOLUÇÃO MAIS RADICAL
Há décadas circulam nos meios acadêmicos murmúrios sobre o conceito descrito como “geoengenharia” – uma tentativa de controlar artificialmente o ambiente do planeta inteiro. É meio como o que estamos fazendo sem querer com as mudanças climáticas – alterando o ambiente com emissões de gases-estufa –, mas de forma deliberada, e com um propósito benéfico. No caso em questão, compensar o aquecimento com métodos de resfriamento.
As ideias mais simples e incontroversas envolvem simplesmente técnicas para tentar tirar parte do CO2 que jogamos na atmosfera. Em contrapartida, na linha “cientistas malucos”, há propostas para induzir artificialmente algo que erupções vulcânicas já fazem: ao disparar aerossóis na estratosfera, sobretudo de dióxido de enxofre, eles refletem parte da luz solar e resfriam o globo. Há correlações claras entre grandes erupções e temporadas mais frias nos anos seguintes.
Mas não se trata de algo simples. “Ações como a injeção de aerossóis na estratosfera reduziriam rapidamente a temperatura global. Porém, os modelos mostram que, uma vez cessada a ação, a temperatura subiria novamente em poucos anos. Os riscos dessa mudança abrupta são desconhecidos”, afirma Artaxo.
A despeito da controvérsia, essas propostas já começam a ser discutidas a sério. “Não se trata, neste momento, de ser contra ou a favor, mas sim de disseminar essa discussão no âmbito da comunidade científica, até para que possamos estar aptos a recomendar normas internacionais de conduta”, diz Carlos Nobre, climatologista e presidente do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas.
Com efeito, tem gente já tentando empurrar experimentos práticos a respeito. Um grupo proeminente é o da Universidade Harvard, nos EUA, proponente do SCoPEx. Financiado por, entre outros, o filantropo Bill Gates, ele pretende realizar um teste em pequena escala de lançamento de partículas na estratosfera a partir de um balão, para medir os impactos químicos e físicos que poderia ter.

Detalhe: o lançamento seria em junho deste ano, a partir de Esrange, na Suécia. Mas a repercussão foi ruim. Os suecos não gostaram da ideia de usar o céu que paira sobre suas cabeças de cobaia.
Isso levou a Corporação Espacial Sueca (SSC) a negar autorização para o teste. “A comunidade científica está dividida a respeito de geoengenharia”, justificou a entidade, em 31 de março. “A SCC decidiu não conduzir um o voo-teste técnico planejado para este verão.”
Em Harvard, um comitê especial solicitou que fosse feito um estudo sobre os aspectos sociais e éticos do projeto, envolvendo os próprios suecos, uma vez que o lançamento partiria de seu país. E note-se que estávamos falando de um pequeno teste; não seria de fato um experimento capaz de produzir modificações no clima. Isso dá uma medida da controvérsia. Agora o objetivo dos cientistas é poder conduzir o experimento em 2022. Será que vão conseguir emplacar?
Difícil de prever. Mas fácil presumir que, a cada ano que passa, conforme falhamos em solucionar essa crise existencial, ideias radicais soarão cada vez mais razoáveis.