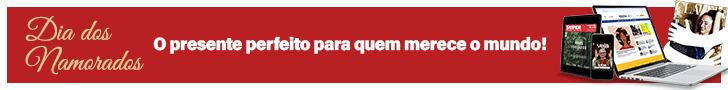A energia eólica já é a segunda maior fonte de eletricidade no país, e a solar cresce a passos largos. Essa revolução vai além de reduzir as emissões de CO2: também diminui o risco de apagões no futuro. Entenda como.
Texto Leonardo Pujol e Bruno Garattoni
Ilustração Felipe Del Rio
Design Natalia Sayuri Lara
A rede elétrica estava em frangalhos. Cortes de energia ocorriam em quase todas as regiões do país, incluindo a capital. Além de deixar a população às escuras, as interrupções frequentes – acompanhadas por oscilações repentinas de voltagem – danificavam eletrodomésticos, estragavam comida na geladeira e desligavam aparelhos essenciais para manter a vida de pessoas internadas nos hospitais. Também interrompiam o fornecimento de água, afetavam as comunicações por telefone e internet e forçavam o fechamento do comércio. Para economizar a pouca eletricidade que restava, o presidente da República reduziu a semana de trabalho do setor público para quatro dias. Depois, encurtou para dois dias. Feriados foram prolongados. Num ato de desespero, os relógios foram adiantados em meia hora – criando um horário de verão de emergência (e um fuso horário que não coincidia com nenhum outro). No centro da crise estavam a má gestão e um suposto ataque cibernético às redes de distribuição de energia do país. Mas não só isso. Também havia seca. A falta de chuva havia exaurido os reservatórios das hidrelétricas, que forneciam dois terços da energia venezuelana.
O Brasil não é a Venezuela. Mas, assim como ela – que viveu essas cenas de caos em 2016, e depois novamente em 2019 –, nosso país é altamente dependente de usinas hidrelétricas, que fornecem 62% da energia que consumimos. E, assim como aconteceu na Venezuela, estamos numa seca sem precedentes: é a pior desde que as medições dos níveis de chuva começaram, em 1931.

O Brasil não corre o risco de apagões catastróficos, como dos nossos vizinhos – que chegaram a ficar 72 horas contínuas sem luz, no país inteiro. E também estamos melhor do que em 2001, quando enfrentamos nosso último apagão: hoje a capacidade de geração é maior, é possível transferir mais energia de uma região do país para outra (as hidrelétricas do Nordeste, que estão com mais água, podem mandar eletricidade para o Sul e o Sudeste), e há alternativas que não existiam duas décadas atrás. Mas a situação é delicada.
Segundo a última projeção do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), órgão estatal que coordena a geração e transmissão de energia no país, a produção de eletricidade deverá ser insuficiente para atender a demanda já a partir de outubro. Na tentativa de evitar um colapso do sistema, o governo brasileiro tem importado energia da Argentina e do Uruguai. Também acionou mais usinas termelétricas, movidas a combustíveis fósseis. Mas elas emitem CO2, têm capacidade de produção limitada (hoje geram 21% da energia no Brasil, ou seja, estão bem abaixo das hidrelétricas) e são muito, mas muito caras. Enquanto um megawatt-hora (MWh) de energia gerado em hidrelétrica custa em média R$ 183, as termelétricas são de três a cinco vezes mais caras (veja quadro abaixo).

O resultado é inflação. Mais inflação. Mesmo se o Brasil conseguir evitar blecautes nos próximos meses, vai entrar em 2022 com forte pressão de aumento de preços – afinal, o custo da energia está embutido no valor de tudo o que consumimos. O objetivo, agora, é meramente sobreviver a isso. Mas o momento também é oportuno para pensar no futuro, e no que pode ser feito para evitar crises energéticas nas próximas décadas – inclusive porque, com o aquecimento global, as secas devem piorar.
“O déficit no atendimento da demanda elétrica no país se torna praticamente inevitável em um cenário de clima extremo até 2040″, afirma um estudo (1) assinado por cientistas de várias universidades brasileiras e publicado pela embaixada do Reino Unido no Brasil. As usinas hidrelétricas são uma ótima maneira de gerar energia; mas não parece prudente deixar a responsabilidade por gerar 60% de toda a energia só nas costas delas. “As licenças ambientais e autorizações para instalações de grande porte estão cada vez mais restritas. O plano decenal nem menciona a possibilidade de uma nova hidrelétrica”, diz Maurício Tolmasquim, professor de planejamento energético da UFRJ. Ele se refere ao estudo da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), órgão do governo que mapeia a evolução do setor elétrico (2).
Se as termelétricas não resolvem nossos problemas, e as hidrelétricas são altamente vulneráveis a oscilações climáticas, então qual a saída? Talvez você já tenha ouvido falar da biomassa, que consiste em gerar energia queimando matéria vegetal. Ela é considerada neutra em carbono: a queima das plantas (no Brasil, a mais usada é o bagaço da cana-de-açúcar) emite CO2, mas as lavouras reabsorvem esse gás quando são replantadas. O problema é que essa fonte de energia requer muito, mas muito espaço: cada metro quadrado de biomassa gera dez vezes menos energia do que se for preenchido com painéis solares (3).
Que tal fazer mais usinas nucleares, então? O Brasil tem muito urânio (nossa reserva é a sexta maior do planeta, e só 30% do território nacional foi analisado). Mas é realista, do ponto de vista tecnológico e econômico, imaginar a construção de mais 10 ou 15 reatores no país? Seria caro e complexo demais. Principalmente porque temos à mão dois recursos muito mais fáceis de explorar: o sol e o vento.
“Uma área equivalente ao município do Rio de Janeiro, preenchido com módulos fotovoltaicos, supriria toda a necessidade de energia do Brasil”, diz Rodrigo Sauaia, presidente da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). A conta é a seguinte. Durante o ano de 2019, o país consumiu ao todo 650 terawatts/hora de eletricidade (em 2020 o consumo caiu por causa da pandemia, mas voltará a crescer quando ela acabar). Para gerar toda essa energia, sem depender de nenhuma outra fonte, seria necessário instalar 372,6 milhões de placas solares – que juntas ocupariam 1.157 km2, o equivalente a 0,01% do território nacional e um pouco menos que a cidade do Rio (1.255 km2).
Esse é um cenário exagerado, claro. Na prática, seria extremamente difícil, ou impossível, colocar tantas placas solares num só lugar – a instalação e a manutenção de um parque desse tamanho, e a distribuição de tanta energia de um só ponto para o resto do país, beiram o impraticável. Mas a conta mostra que os painéis fotovoltaicos, se forem distribuídos por um país, podem gerar uma quantidade surpreendente de eletricidade.
Tanto é assim que, em setembro, a Casa Branca apresentou um plano para mudar radicalmente a matriz energética dos EUA, passando de 4% de energia solar, hoje, para 45% em 2050. O plano (4), que ainda precisa passar pelo Congresso, prevê investimentos de US$ 562 bilhões, uma enormidade até para os padrões americanos – mas estima que a mudança acabará gerando um retorno de US$ 1,7 trilhão, porque irá reduzir o aquecimento global e as mortes causadas pela poluição, bem como os prejuízos decorrentes deles. E o investimento não precisa ser feito todo de uma só vez; seria diluído ao longo das décadas, o que o torna bem mais exequível.
A energia solar passou por uma revolução silenciosa nos últimos dez anos. As placas fotovoltaicas costumavam ter eficiência média de 12% (ou seja, pouco mais de um décimo da energia captada do Sol era de fato convertida em eletricidade), mas hoje os melhores módulos ficam entre 18% e 23%. E ainda há muito espaço para crescer: em 2019, cientistas dos EUA construíram uma placa solar com 47% de eficiência.
Esses equipamentos também estão ficando mais baratos: na última década, os preços caíram mais de 80%. E devem cair muito mais – pois a China, que fabrica a maioria das placas fotovoltaicas, anunciou que irá instalar mais 700 gigawatts de energia solar e eólica até 2030, para alcançar 1.200 GW de capacidade total (o equivalente a 85 usinas de Itaipu). Isso certamente fará com que os preços das placas caiam.
No Brasil, atualmente 1,9% da eletricidade vem de usinas solares, que juntas têm 3.300 megawatts de potência. A maior de todas fica no interior do Piauí: é o parque solar São Gonçalo, localizado no município de São Gonçalo do Gurgueia. Ele ocupa uma área de 1.200 hectares (o equivalente a 12 km2, ou 1.200 campos de futebol), e está prestes a concluir sua terceira fase de expansão. No total, serão 2,2 milhões de “módulos solares bifaciais”.
Esses painéis possuem um detalhe interessante: também têm placas fotovoltaicas na parte de baixo. Por isso, conseguem aproveitar não só a radiação solar direta, mas também a refletida pelo solo. Além disso, se movem ao longo do dia, mudando de inclinação para acompanhar o deslocamento do Sol. Esses truques aumentam a geração de energia em até 18% se comparada a painéis convencionais. Os 864 MW da usina podem abastecer 1,1 milhão de casas.
Cerca de cem funcionários trabalham na Usina São Gonçalo, que pertence à empresa italiana Enel. Eles realizam a poda da vegetação, necessária para evitar a formação de sombra nos painéis, bem como a lavagem das placas, que perdem a eficiência conforme vai havendo acúmulo de poeira. São dois ciclos de lavagem por ano.
Fora isso, ela meio que funciona sozinha – aproveitando as condições climáticas da região. “Existe um cinturão que vai desde o Rio Grande do Norte, passa por todo o sertão nordestino, pelo centro do país, terminando entre o norte de Minas Gerais e o sul da Bahia. Essa faixa tem baixa umidade do ar e alto nível de irradiação solar”, explica Jayme Barg, diretor de tecnologia da usina.
Isso garante uma produção mais ou menos constante. Enquanto as hidrelétricas geram mais energia no primeiro semestre (quando chove mais), e as usinas eólicas no segundo (quando venta mais), os parques solares do Nordeste distribuem a produção ao longo do ano. Outro ponto interessante é que a cidade de São Gonçalo do Gurgueia tem solo desértico (5), com terra seca e de cor clara. Isso significa maior “taxa de albedo” – a capacidade de o solo refletir os raios do Sol, ideal para o uso de placas bifaciais.
Além de sol, o Nordeste também é rico em energia eólica. O motivo está nos ventos alísios, que sopram do Atlântico em direção ao Equador. Eles são mais constantes, com velocidade estável e não mudam de direção com frequência – ou seja, são ideais para gerar eletricidade.
A maior usina eólica do Brasil, e da América do Sul, também fica no Piauí (e também pertence à Enel). É o complexo Lagoa dos Ventos, que se espalha pelas cidades de Queimada Nova, Lagoa do Barro e Dom Inocêncio, a 632 quilômetros da capital Teresina. A usina é dividida em duas unidades, com 230 aerogeradores (turbinas) instalados em torres de até 120 metros, altura equivalente a um prédio de 44 andares. Uma terceira unidade da planta está em fase de construção, o que elevará para 302 o número de aerogeradores. Com isso, a potência máxima chegará a 1,1 GW.

Neste ano, o Brasil ultrapassou os 19 gigawatts em capacidade de gerar energia eólica, o que dá quase 11% da nossa matriz energética. O Nordeste bateu o recorde de produção no dia 6 de agosto, quando alcançou 11,6 GW de potência média. Isso corresponde a 104,4% do consumo, ou seja, deu e sobrou para abastecer todos os Estados da região, só com o vento, naquele dia. O restante foi enviado ao sistema integrado, abastecendo outras regiões do país.
A energia eólica deve continuar acelerando e superar os 30 GW de capacidade eólica em 2024. Isso é mais do que duas usinas de Itaipu (a segunda maior hidrelétrica do mundo, com potência máxima de 14 GW). Cerca de 11,6 GW de parques eólicos já estão em construção ou contratados. Serão 344 deles, a maioria no Nordeste, unindo-se aos atuais 726 – elevando de 8,5 mil para 11 mil o número total de aerogeradores em operação. Como cada gigawatt requer R$ 7 bilhões de investimento, serão cerca de R$ 80 bilhões injetados no setor nos próximos três anos.
Atualmente, o maior produtor é o Rio Grande do Norte, seguido por Bahia, Ceará, Piauí e Rio Grande do Sul [veja quadro abaixo]. “Não é que São Paulo ou Rio de Janeiro não tenham potencial. Mas, por terem os melhores ventos, o Sul e o Nordeste se impõem”, diz a economista Elbia Gannoum, da Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica). Ou seja: os Estados que mais produzem energia eólica não são os que mais consomem, o que gera custos de distribuição.
Mas esse cenário pode mudar com o desenvolvimento da energia eólica offshore, que é gerada por turbinas flutuantes instaladas em alto-mar, como as plataformas de petróleo. Ela costumava ser cara, mas seu custo caiu 80% nas últimas décadas – e hoje seu megawatt/hora custa R$ 400 a R$ 500. Ainda é bem mais cara que as usinas eólicas convencionais, mas já consegue competir com as termelétricas.
Além disso, as turbinas offshore geram mais energia do que as onshore, em terra firme, porque em alto-mar o vento é mais forte (lá não existem obstáculos, como morros, árvores e edificações, para desacelerá-lo), e isso permite instalar turbinas gigantes, com pás e dínamos bem maiores. A General Electric já produz um aerogerador offshore, o Haliade-X, que é capaz de gerar 14 megawatts – mais que o dobro das onshore. Tem 260 metros, seis vezes a altura do Cristo Redentor, e custa US$ 400 milhões. É caríssimo; mas acaba se pagando, e dando lucro.
Tanto é assim que a energia eólica offshore tem atraído um número crescente de investidores, especialmente nos últimos dois anos. A Europa já tem 5,4 mil turbinas do tipo, e os EUA pretendem instalar 2 mil ao longo dos próximos oito anos. A China também avança velozmente no modelo.
No Brasil, a despeito dos nossos mais de 7 mil quilômetros de litoral, não há uma única torre offshore. Mas isso deve mudar. “Estamos para concluir a elaboração do normativo que vai regulamentar a eólica offshore no país”, diz Paulo Cesar Domingues, secretário de planejamento do Ministério de Minas e Energia (MME). Segundo ele, o documento será publicado ainda este ano, permitindo que as turbinas comecem a ser instaladas.
E não serão poucas: já existem 42 gigawatts de potência eólica em análise no Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). São investimentos de multinacionais como Equinor, Neoenergia, EDP e Engie, com projetos que se espalham pelo Nordeste e pelo Sul – mas também pelo Sudeste, em Estados como Espírito Santo e Rio de Janeiro.
O Ministério de Minas e Energia prevê que o Brasil irá alcançar, somando todas as fontes de energia, 350 gigawatts de capacidade instalada em 2050. É o dobro da atual – e será necessária para abastecer um futuro com carros elétricos, economia digitalizada, automação industrial e uma sociedade mais próspera e desenvolvida. É possível chegar lá usando energia limpa. Segundo uma projeção da consultoria BloombergNEF, o Brasil poderá alcançar 376 GW em 2050, com quase 80% vindo do sol e do vento.
Tudo isso é ótimo, mas também tem um problema. Assim como a energia hídrica, a solar e a eólica estão sujeitas a variações climáticas muito difíceis de prever – e impossíveis de controlar. E se houver uma sequência de dias nublados, ou ventar menos em determinado mês? Num cenário em que as energias solar e eólica se tornam dominantes, isso pode criar problemas graves de abastecimento. Por isso, a adoção maciça dessas fontes de energia precisa vir acompanhada de outra tecnologia, que permita estocá-las.