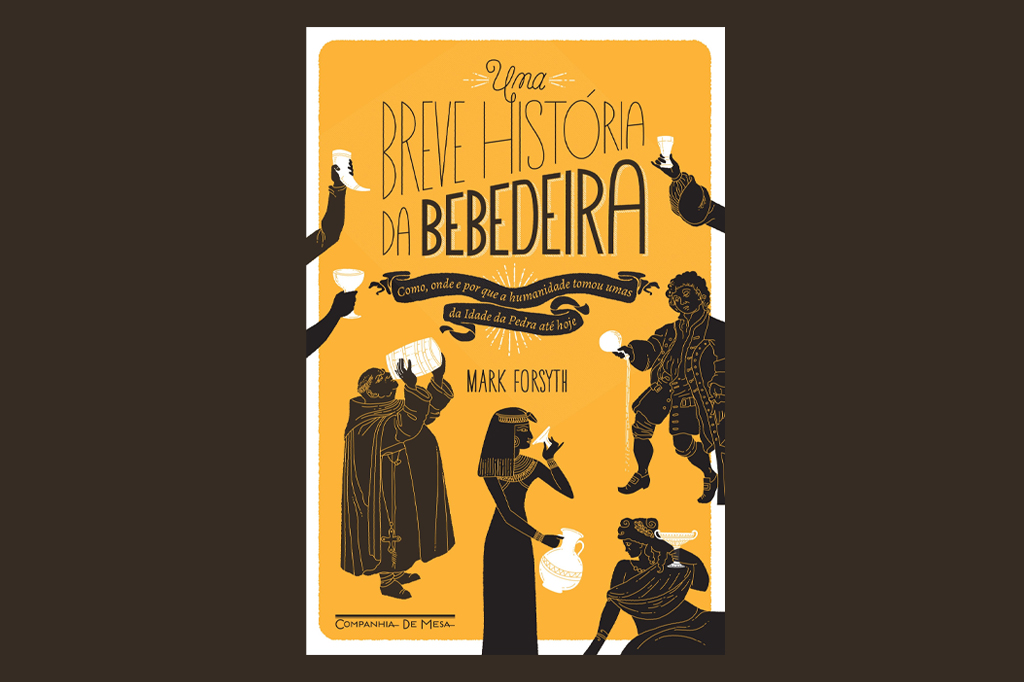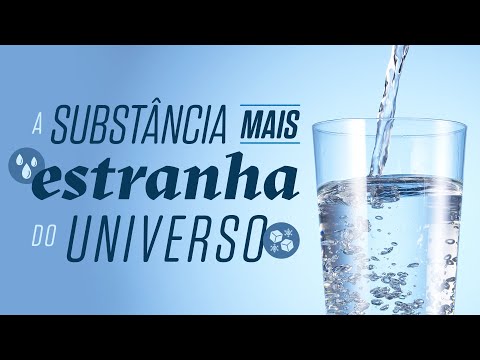Da Suméria ao Leblon: a evolução dos bares
As popinas romanas. O pub medieval. Os saloons americanos. Desde que a humanidade passou a produzir álcool, criamos lugares para beber em conjunto. Veja o que mudou (e o que não mudou) de lá pra cá.

Texto Rafael Battaglia | Edição Alexandre Versignassi | Design e colagens Luana Pillmann
Um grupo de arqueólogos escavou algo peculiar no Iraque em fevereiro. Escondida sob 50 centímetros de areia, estava uma estrutura com sete cômodos e um pátio aberto. Por ali, havia bancos de pedra espalhados e uma grande cozinha com forno e zeer – um tataravô das geladeiras, feito de barro, que ajudava a resfriar alimentos.
Havia também potes com resquícios de cerveja – a bebida favorita dos sumérios, primeira civilização a habitar a Mesopotâmia, 6,5 mil anos atrás. Esse lugar é datado de 2.700 a.C. – até segunda ordem, trata-se do bar mais antigo de que se tem notícia.
A descoberta aconteceu no sítio arqueológico de Lagash, uma antiga cidade-estado suméria que ficava perto do encontro dos rios Tigre e Eufrates. Ela chegou a abrigar 50 mil habitantes e foi um importante centro religioso e comercial.
Lagash era um polo de fabricação de cerâmica – os pesquisadores acreditam que o estabelecimento atendia os trabalhadores desse ramo, que talvez se reunissem lá para petiscar tâmaras, peixe seco – e beber.
A produção em massa de bebidas alcoólicas é tão antiga quanto a civilização. Uma teoria discutida desde os anos 1950 defende, inclusive, que o plantio de grãos começou não para fazer pão – e sim cerveja. “Havia muita comida espalhada pela terra. Nós desenvolvemos a agricultura porque queríamos tomar uma”, escreve o britânico Mark Forsyth, um autor especializado em divulgação científica, no livro Uma Breve História da Bebedeira.
O bar sumério, claro, não se chamava “bar” – esse termo só surgiu nos Estados Unidos do século 19. Tampouco “taverna”, uma palavra que veio do latim (idioma que só seria criado 2 mil anos depois). Na língua suméria, um estabelecimento do tipo era chamado de ec-dam. De qualquer forma, ele guarda semelhanças com seus sucessores – do pub medieval ao boteco do happy hour. Vamos ver como um ec-dam funcionava.
Mingau de cevada
A Suméria seria o paraíso dos fãs de cerveja artesanal. A bebida poderia ser feita com cevada, castanhas ou levar um toque de mel. Tinham as leves, as mais escuras e as encorpadas com vinho, mais caras. Mas era preciso sorte: cada estabelecimento produzia a sua própria cerveja, ali mesmo – e o cardápio do dia poderia incluir só um tipo ou outro.
As tavernas ficavam na praça central da cidade, mas grandes centros urbanos (como Ur, que chegou a ter 65 mil habitantes) tinham inúmeras delas. Todas mais ou menos do mesmo jeitão: uma construção baixa feita de tijolos e barro, com um interior escuro, tudo indica que com cheiro forte e repleto de moscas (cortesia dos barris de fermentação).
Esses lugares pertenciam a mulheres. A fabricação de cerveja era vista como uma tarefa doméstica, e a responsabilidade de tocar o bar também era delas. Todos os clientes bebiam de canudinho. É que a breja da época estava mais para um mingau borbulhante de grãos. O canudo era a forma de evitar as partes sólidas que ficavam boiando.
Era um reduto de diversão masculina. De acordo com registros sumérios, as pessoas faziam apostas de quem bebia mais e se encontravam com prostitutas, que costumavam ficar na porta (o sexo acontecia ao ar livre mesmo). E jogavam conversa fora. A piada de boteco mais antiga é suméria: “Um cachorro entra no bar e diz: ‘não consigo ver nada. Vou abrir essa porta’”. Pois é: não dá para entender. Talvez seja referência a algum “meme” da época – quando arqueólogos do futuro encontrarem menções à Carreta Furacão em registros do século 21, provavelmente não vão sacar qual era a graça….
Apesar do clima descontraído, havia regras no ec-dam. O Código de Hamurábi, primeiro conjunto de leis da história, escrito por outro povo da Mesopotâmia, os babilônios, faz três menções a esse tipo de estabelecimento. A proprietária que tentasse passar a perna em algum cliente na hora de cobrar pelas cervejas seria condenada à morte. Se o bar servisse como ponto de reunião para quem conspira contra o governo, ela seria executada – por cumplicidade. E se uma sacerdotisa fosse vista lá dentro, adivinhe? Morta também.
Tavernas e rolês caseiros
A Grécia Antiga também tinha lugares para comprar birita, claro – acredita-se que estabelecimentos do tipo surgiram em centros comerciais entre os séculos 5 a.C. e 4 a.C. por lá. Um kapeleio atendia a população local e viajantes em busca de bebida e comida (frutas, legumes, pinhões).
Mas os hábitos eram diferentes. Para começar, o vinho era unanimidade. Os gregos consideravam cerveja uma bebida inferior – eles não entendiam como faraós egípcios, por exemplo, podiam gostar daquele mingau alcoólico, consumido pelos escravos.
Não que a bebida deles fosse muito melhor, diga-se. O vinho era diluído em água e, às vezes, adicionavam-se mel e especiarias. Esse arremedo de coquetel era uma forma de atenuar o gosto do goró: sem técnicas eficazes de vedação, o etanol do vinho grego oxidava rapidamente e virava ácido acético – vinagre.
Mas há poucos registros de kapeleios. Talvez porque a elite grega gostasse mesmo de beber em casa. E tinham um ritual para isso: o simpósio (do verbo sympotein; “beber junto”). Ele acontecia depois do jantar no andron (“sala dos homens”; mulheres não podiam participar), uma sala circular com sofás e o chão levemente inclinado para o centro, para facilitar o escoamento na hora da limpeza.
Havia um líder do evento, o simposiarca. Ele escolhia desde o tipo de vinho ao nível do rolê: se as pessoas voltariam para suas casas depois ou se ele terminaria na rua, com todos gritando e correndo. Ele também determinava a pauta da festa, ou seja, se os convidados passariam a noite jogando kottabos (uma espécie de tiro ao alvo) ou discutindo política, filosofia, sentimentos – a obra O Banquete, de Platão, descreve um simpósio cujo tema era o amor.
De volta às tavernas. Com os romanos, um pouco mais tarde, elas se espalharam pelo Mediterrâneo conforme as fronteiras do império se expandiam. No começo, eram simples (taberna, em latim, originalmente significava “cabana”, “barraca”). Com o tempo, muitas se tornaram luxuosas e ganharam papel central na economia urbana. Vendiam comida, vinho, joias e serviam como entrepostos para distribuição de grãos. Dava para encontrar tavernas em mercados, nos edifícios residenciais e nos fóruns.

Mas não eram só elas. Os estabelecimentos mais próximos de um bar para valer eram as “popinas”. Em torno de um balcão em formato de “L” ou “U”, as classes baixas se reuniam para socializar, beber vinho e comer. No cardápio, azeitonas, pães e ensopados servidos rapidamente, estilo fast-food.
A elite romana despreza as popinas, vistas como antros de crime e violência. Rolavam jogos de azar, e havia pinturas espalhadas de gente apostando com dados. Era algo proibido (mas, a exemplo das bibocas de hoje que ainda possuem caça-níqueis, ninguém parecia ligar muito). Um poeta do século 2 d.C. descreveu o público cativo: “ladrões, assassinos, marinheiros, carrascos e fabricantes de caixões”.
Parece mesmo o lugar ideal para tomar uma.
Pubs e estalagens
O costume de beber fora se perdeu nos primeiros séculos da Idade Média. Em uma sociedade agrícola e descentralizada, as pessoas fabricavam cerveja em casa. Não por lazer: a bebida fazia parte da dieta dos camponeses (as calorias da cerveja, afinal, também são calorias). Era também a primeira opção para se hidratar: água potável era coisa rara, e o álcool oferecia algum nível de proteção contra infecções.
A produção era rotineira, já que a cerveja estragava depois de dois ou três dias. Quem fizesse além da conta vendia o excedente: bastava sinalizar com o barril do lado de fora da casa, um bastão com um arbusto em cima da porta – e aguardar a clientela.
Quem também passou a fazer bebida nessa época foram os monastérios. Não por alcoolismo dos monges, mas porque era do comércio de vinho que essas comunidades religiosas tiravam seu sustento.
Ao longo dos anos, eles aperfeiçoaram a fabricação de bebidas alcoólicas. A partir do século 9, monastérios da Alemanha passaram a adicionar lúpulo no processo da cerveja. A planta conferia o sabor amargo que hoje é característico da bebida – e, o mais importante, estendia a sua data de validade. Guarde essa informação.
A partir do século 11, o renascimento comercial (e, consequentemente, das cidades) trouxe de volta estabelecimentos de comes e bebes – sobretudo, para atender ao volume crescente de viajantes. Primeiro, vieram as estalagens: hotéis caros para nobres e comerciantes. Elas contavam com estábulo, lavanderia e pátios internos. Reuniões e até julgamentos poderiam acontecer por ali.
Com o tempo, as casas que antes vendiam o excedente de cerveja começaram a se especializar no negócio. A popularização do lúpulo possibilitou estoques. Em vez de oferecer breja do lado de fora passaram a receber clientes dentro das residências. É daí que, na Inglaterra, surge o termo pub, abreviação de public house, “casa pública”.
Os pubs tinham um bastão de madeira na entrada. Eles mantinham bancos do lado de fora e as portas abertas – uma exigência das autoridades para inspecionar o que rolava ali.
O interior não tinha nada de glamuroso. Em muitos casos, era apenas a cozinha de alguém, com cadeiras espalhadas, lareira acesa e barris de cerveja no fundo. Em um pub renascentista, dava para jogar, apostar, ter um encontro, ouvir as notícias – e, claro, beber. O consumo padrão era de três canecões (tankards) de madeira.
Com o passar dos anos, “pub” passou a ser sinônimo de qualquer estabelecimento aberto ao público. Em 1577, uma pesquisa na Inglaterra e no País de Gales contabilizou 16.162 deles, entre cervejarias, tavernas e estalagens – um para cada 187 habitantes.
Era uma vez no Oeste
Ao longo da maior parte da história, a humanidade só conhecia bebidas fermentadas, com no máximo 15% de teor alcoólico. A destilação moderna mudou isso. Ela começou no século 14, quando alquimistas purificavam álcool em busca do “elixir da vida”. Até o século 16, a fabricação de álcool mais puro era restrita a fins medicinais – mas não demorou para que esses líquidos (geralmente infusionados com especiarias) entrassem para o cardápio de bebidas.
No século 17, Holanda e França tiveram problemas com o consumo desenfreado de destilados. Na virada para o século 18, o gin (que, em alguns casos, chegava a 80% de teor alcoólico) causou uma crise de saúde pública na Inglaterra. Para comparar: os gins de hoje, ainda pesados, têm 50%.
Para além do consumo in loco, os destilados viraram os queridinhos dos viajantes. A bebida não apodrecia e, claro, entregava mais álcool num volume muito menor. Esse foi um fato importante para algo que aconteceu do outro lado do Atlântico: a ocupação do meio-oeste dos Estados Unidos.
Até a metade do século 19, o território habitado dos EUA se resumia à costa leste do país. Em 1848, descobriu-se ouro na Califórnia. Em 1862, o presidente Abraham Lincoln baixou uma lei de distribuição de terras no oeste para quem estivesse disposto a ficar, pelo menos, cinco anos, por lá. Muita gente topou – e a bebida foi junto.
Os primeiros bares do meio-oeste americano não passavam de tendas com barris de uísque de baixa qualidade mais latas de ostra e de sardinhas em conserva trazidas da costa leste. Conforme as cidades cresciam, novas destilarias e bares abriram. A competição fez a qualidade da bebida aumentar – e a dos bares também.
Com US$ 60 mil em dinheiro de hoje, você podia construir um saloon decente. O nome vem de “salon”, que em francês significava uma reunião de pessoas (a escolha foi, provavelmente, para soar requintado). Eram construções de esquina feitas de madeira, com uma grande placa (os mais humildes tinham uma frente falsa que dava a impressão de haver dois andares, quando na verdade só havia um).
Ao contrário do que se vê nos filmes, as portas de vaivém na entrada eram raras – afinal, elas seriam inúteis para barrar o frio. Como nos pubs ingleses, atendentes trabalhavam atrás de um balcão (em inglês, “bar”; no sentido de uma “barra” onde servem as coisas – é daí que vem o termo). O chão era de areia com um trilho de latão, e havia penicos espalhados para cuspir tabaco.
Bebia-se, basicamente, uísque de milho (o preferido era o moonshine, uma variante artesanal com até 80% de álcool). A tradição mandava pedir duas doses assim que se chegasse ao saloon – uma para beber, outra para oferecer a alguém. Não fazer isso (ou pior: não aceitar a dose que te deram) era uma ofensa grave.
Os saloons tinham uma reputação péssima. Em 1854, por exemplo, o romance Dez Noites em um Bar e o que Eu Vi lá, de Timothy Shay Arthur, espalhou a visão de que eles eram lugares que levavam os homens à violência e à pobreza, por conta do alcoolismo. No final do século, a Liga Anti-Saloon (formada, majoritariamente, por mulheres do meio-oeste) lutou pelo fim desses espaços. A pressão civil foi uma das principais responsáveis pela criação da Lei Seca, que proibiu o comércio de bebidas nos EUA de 1920 a 1933.
Os saloons fecharam. Mas o consumo de álcool seguiu. Bares escondidos proliferaram nas grandes cidades, onde era mais fácil operar abaixo do radar (na maior parte das vezes, era apenas o apartamento de alguém). E as mulheres, que antes não frequentavam os saloons, foram bem recebidas.
A bebida, porém, era péssima. Muitas eram feitas a partir de álcool industrial roubado. O jeito, então, foi inventar drinques para mascarar o gosto. Foi nessa época que se difundiu o uso de ingredientes como água tônica, gengibre e Coca-Cola.

E no Brasil?
As tavernas surgiram por aqui logo nos primeiros anos do Brasil Colônia. Eram precárias, com pouca mobília e repletas de cobras, mosquitos e morcegos. Não raro, as pessoas tinham de comer agachadas no chão. Mesmo assim, recebiam todo tipo de público. Afinal, elas ajudavam a garantir a instalação dos colonos, servindo de posto de abastecimento e para fechar acordos com os povos indígenas.
As tavernas acompanharam a expansão do Brasil continente adentro. “Assim como as igrejas, elas estão na raiz da fundação das cidades brasileiras”, diz Lucas Brunozi Avelar, do Laboratório de Estudos Históricos das Drogas e da Alimentação da USP.
Nas tavernas, as pessoas se atualizavam sobre os acontecimentos da colônia, discutiam política e organizavam eventos. “Elas eram as fábricas da vida social da classe trabalhadora”, ressalta Avelar, autor de uma tese sobre o tema.
E o que se vendia lá? De tudo um pouco: comida, ferramentas, pequenos utensílios. Incentivadas pela Coroa, as tavernas comercializavam vinho e aguardente de uva. Mas a cachaça, inicialmente consumida apenas por escravos, logo ganhou destaque.
A cerveja só entrou na jogada mais tarde. Ela chegou ao Brasil no século 17, quando os holandeses instalaram uma colônia em Pernambuco. A partir de 1808, com a chegada da Família Real, o Brasil passou a importar a bebida da Europa. Mas a popularização só veio mesmo na segunda metade do século 19, quando imigrantes alemães deram um boom na produção local. O hábito se consolidou de vez a partir de 1888, com a abertura de duas grandes cervejarias: a Brahma, no Rio de Janeiro, e a Antarctica, em São Paulo.
Na virada para o século 20, cafés e restaurantes se popularizaram nos grandes centros urbanos. Inspirados pela cultura europeia, eram lugares sofisticados, frequentados pela elite. Mas os bares continuaram como refúgio das classes baixas. Muitos, inclusive, passaram a acompanhar o horário dos trabalhadores, abrindo de manhã para servir café, comida – e, para os mais perdidos na vida, uma cachacinha.
Mas, afinal, quando passamos a chamá-los de “boteco”? O termo vem de “botequim”, diminutivo de “botica”. As boticas eram as antecessoras das farmácias – por lá, destilava-se álcool para a produção de tônicos e remédios. A palavra derivou do grego apothéke (“depósito”, “casa de bebidas”), que também inspirou “adega”. Contudo, não se sabe ao certo quando a palavra “boteco” caiu na boca do povo.
Essa é só mais uma lacuna da história. “Infelizmente, há muita coisa não documentada no Brasil”, diz João Luiz Maximo da Silva, professor de História da Alimentação no Senac. “Por muito tempo, achou-se que era inútil se debruçar sobre esse tipo de assunto.”
Uma pena. É justamente das coisas banais da vida que aprendemos mais sobre nossos antepassados – e sobre nós mesmos. “Tavernas, bares e outros elementos do cotidiano têm muita potência para revelar aspectos da humanidade”, diz Avelar. Então desce mais uma rodada, garçom, porque ainda há muito o que descobrir.