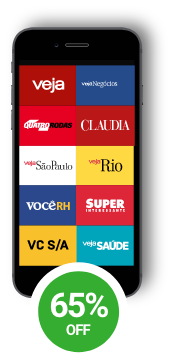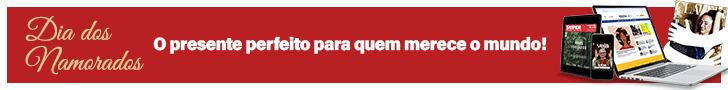Texto Bruno Garattoni e Tiago Cordeiro
Fotos Dulla
Design Natalia Sayuri Lara
Todo mundo esquece coisas, certo? Não tem nada de anormal. Mas o tempo vai passando, e você percebe que está esquecendo um pouco mais. Datas, compromissos, a água fervendo no fogão. É ruim, mas não alarmante. Até que leva o primeiro susto: está na rua e esquece o endereço de casa. Depois lembra. Seu celular some e reaparece dentro da geladeira – sem que você faça a menor ideia de como foi parar ali. Você começa a trocar algumas palavras. Um dia olha para o seu cachorro e pensa: qual é mesmo o nome dele? Preocupada, sua família leva você ao médico, que receita um ou dois remédios. Não faz muita diferença.
Um dia, quando vai tomar banho, você não consegue se lembrar de onde fica o banheiro. Meu Deus. Acaba achando o banheiro e se tranquiliza um pouco… mas qual era mesmo a sequência de movimentos das mãos para abrir a água e ensaboar o corpo? Ensaboar? O que você está fazendo ali? Seu cônjuge bate na porta. Você abre – e leva um susto ao ver um rosto desconhecido. Quem é aquela pessoa? Que casa é essa? Quem é você?

OO Alzheimer é uma doença apavorante. Apavorante e surpreendentemente comum: corresponde a 70% de todos os casos de demência e afeta 38 milhões de pessoas no mundo (1,2 milhão no Brasil). Nos EUA, um em cada nove indivíduos acima de 65 anos tem Alzheimer (a partir dos 85 anos, um em cada três), e ele é a terceira maior causa de morte entre idosos.
Por isso o 7 de junho de 2021 foi tão marcante. Naquele dia a FDA, a agência que regula os medicamentos nos Estados Unidos, autorizou o lançamento do aducanumab, primeiro remédio contra a doença a ser lançado desde 2003. E tinha mais: aquela droga, desenvolvida pelo laboratório americano Biogen, era a primeira a tratar a causa, e não apenas os sintomas do Alzheimer. Uma revolução.
O aducanumab (que é vendido nos EUA com o nome comercial Aduhelm) é um anticorpo monoclonal, ou seja, que foi projetado em laboratório e é produzido a partir de uma única célula, clonada infinitamente – daí o termo “monoclonal”. Trata-se de uma célula de ovário de hamster (conhecida pela sigla CHO), já usada em vários outros anticorpos artificiais. No caso do aducanumab, ela foi modificada geneticamente para produzir anticorpos contra a beta-amiloide: uma proteína cujo excesso no cérebro forma placas que atrapalham a comunicação entre os neurônios, causando os problemas cognitivos típicos do Alzheimer.
O fabricante cultiva essa célula em biorreatores, tanques de 20 mil litros cheios de glicose e aminoácidos onde ela se multiplica por várias semanas. Ao final do processo, o conteúdo do tanque é filtrado e sobram apenas os anticorpos. Está pronto o aducanumab. Como os outros anticorpos monoclonais (que servem para tratar câncer e doenças autoimunes), ele é difícil de fabricar, e por isso caro: nos EUA, custa US$ 56 mil por ano de tratamento (o medicamento ainda não foi liberado no Brasil).
A aprovação do remédio pela FDA foi recebida com entusiasmo pela Alzheimer’s Association, que reúne as famílias de pacientes nos EUA. “Estamos entrando em uma nova era para o tratamento do Alzheimer”, diz Niles Frantz, diretor de comunicação da entidade. Aquilo era o resultado de anos de pesquisas, com resultados que realmente impressionaram – ficou famosa uma capa do jornal científico Nature, publicada em 2016, que mostrava a tomografia de um cérebro antes e depois do tratamento com aducanumab. A diferença era dramática: o remédio reduzia drasticamente a quantidade de placas de proteína beta-amiloide.
Mas, com a doença em si, o resultado foi outro. Os estudos clínicos realizados com pacientes de Alzheimer revelaram que a droga fazia pouco ou nenhum efeito sobre o que realmente importa: mesmo limpando as placas de beta-amiloide, ela não interrompia, desacelerava ou revertia os sintomas da doença. “Parece mágica: os exames de imagem confirmam que o medicamento retira, de fato, a proteína”, diz a médica Jerusa Smid, coordenadora da Academia Brasileira de Neurologia (ABN). “Mas o paciente permanece do mesmo jeito. Ou seja, temos uma melhora deslumbrante no exame, mas sem benefício clínico comprovado até agora.”
Ou seja, o aducanumab não funcionou. Além disso, seu processo de aprovação foi marcado por polêmicas, testes abandonados por falta de eficácia, conselheiros da FDA se demitindo em protesto e falta de dados – até hoje, por incrível que pareça, os resultados dos testes clínicos realizados pelo Biogen com o remédio não foram publicados em um jornal científico com “revisão por pares” (em que médicos e cientistas independentes analisam os dados).
Essa sequência de eventos, que você conhecerá a seguir, forma um retrato que vai muito além do fracasso do remédio. Também arranha a credibilidade da FDA, que sempre foi uma referência mundial. Reabre a discussão sobre os métodos da indústria farmacêutica. E coloca em dúvida a teoria científica que norteou a pesquisa do Alzheimer nas últimas décadas. Afinal, se eliminar as placas de beta-amiloide não resolve ou melhora os sintomas, será que elas são as reais causas da doença?
A ascensão e a queda
Em agosto de 2015, o aducanumab estava pronto para começar seus testes de Fase 3, a última antes da aprovação. A Biogen fez dois testes desse tipo (1): o “Engage”, que reuniu 1.653 pacientes, e o “Emerge”, com 1.643. Os dois, que correram ao mesmo tempo e foram desenhados para levar quatro anos, eram do tipo duplo-cego: nem os pacientes nem os médicos sabiam quem estava tomando o remédio e quem recebia placebo. Tudo certo, como deve ser.
Mas em março de 2019, faltando poucos meses para o final dos testes, o laboratório deu uma má notícia: disse que estava interrompendo os dois estudos, pois eles não haviam passado no que os cientistas chamam de “análise de futilidade”. Ou seja, o aducanumab não se mostrara minimamente eficaz no tratamento da doença. “Essa notícia desapontadora confirma a complexidade do tratamento do Alzheimer e a necessidade de avançar o conhecimento da neurociência”, afirmou a empresa. Uma pena, mas acontece – 40% das drogas fracassam na última fase de testes clínicos (2).
O aducanumab era só mais uma delas. Mas aí, em outubro daquele ano, a Biogen muda de ideia. A empresa diz que analisou melhor os dados dos dois estudos, aqueles que ela mesma havia abandonado, e um deles na verdade apontava eficácia do medicamento, com redução de 22% no declínio cognitivo dos pacientes tratados (segundo a empresa, o outro não mostrava isso porque nele as pessoas não haviam recebido a dose máxima, de 10 mg/kg de peso corporal).
A Biogen também disse que havia detectado redução de 40% no comprometimento de atividades rotineiras, como se alimentar e tomar banho, e redução de 87% em sintomas como ansiedade, agressividade e agitação. Por isso, a empresa disse que iria reiniciar o processo de submissão da droga à FDA. Mas se o remédio era assim tão bom, por que haviam desistido dele? “Gerou desconfiança o fato de o ensaio clínico ter sido interrompido, porque o remédio não se mostrava eficaz, mas depois ter sido retomado”, diz a médica Claudia Suemoto, professora de geriatria da Faculdade de Medicina da USP.

Os dados do aducanumab seguiram para a FDA – onde ele teve a pior recepção possível. Em 6 de novembro de 2020, um grupo de onze conselheiros da agência votou de forma implacável: 10 votos contra a aprovação do remédio (o décimo primeiro se declarou “indeciso”). Zero votos a favor.
Mesmo assim, em junho de 2021, a FDA decidiu liberar o medicamento. Ele foi aprovado por um processo de urgência, o chamado Fast Track. “Como aprendemos com a luta contra o câncer, a aprovação acelerada pode agilizar o acesso dos pacientes a novas terapias, ao passo que estimula as pesquisas”, disse Patrizia Cavazzoni, diretora de pesquisa e avaliação de medicamentos da agência (3).
Não pegou bem. Assim que a decisão da FDA se tornou pública, três conselheiros (daquele grupo que votou contra o remédio) renunciaram a seus postos. Um deles era o médico Aaron Kesselheim, professor da Harvard Medical School, que publicou uma carta de protesto (4). “Está claro para mim que a FDA não é, neste momento, capaz de integrar as recomendações do comitê científico em suas decisões”, escreveu.
A agência não é obrigada a seguir as recomendações de seus conselheiros – e, em 22% dos casos, não faz isso (5). Mas as controvérsias anteriores envolvendo o aducanumab, e o fato de que ele havia recebido um “não” unânime, esquentaram a polêmica e atraíram a atenção da mídia nos EUA – à qual Kesselheim fez declarações preocupantes.
Em entrevista à emissora CNN, ele disse que a reunião de novembro teve um alinhamento pouco comum entre diretores da FDA e representantes da Biogen. “Havia uma dinâmica estranha, se comparada com outras reuniões de que participei. Normalmente há algum distanciamento entre a FDA e a empresa, mas neste episódio as duas partes estavam totalmente alinhadas no apoio ao medicamento.”
O caso explodiu quando o site americano Stat, especializado em indústria farmacêutica, publicou uma longa investigação sobre o aducanumab (7) – na qual expõe um encontro particular entre Al Sandrock, diretor de pesquisa e desenvolvimento da Biogen, e Billy Dunn, diretor do departamento de neurociência da FDA.
Em maio de 2019, quando a Biogen estava reavaliando os dados de eficácia de seu remédio, os dois se encontraram em um congresso de neurologia na Filadélfia – e sentaram para falar sobre o aducanumab. Pode parecer algo trivial, mas não é.
Assim como outras agências regulatórias, a FDA sofre forte pressão e tentativas de influência da indústria, especialmente por meio de um fenômeno conhecido como “porta giratória”: funcionários da agência que acabam indo trabalhar em empresas farmacêuticas e depois retornam, o que pode comprometer a isenção das suas decisões. Por isso, existem normas proibindo a interação entre funcionários da FDA e da indústria: isso só pode acontecer em encontros oficiais e registrados, on the record.
Mas Dunn e Sandrock falaram em off. E, aparentemente, se entenderam bem. “Estava claro que Billy Dunn era um aliado, então o trabalho da Biogen passou a ser descobrir como apoiá-lo dentro da FDA”, disse ao Stat um ex-funcionário da empresa, cujo nome foi mantido em sigilo. Um mês após aquela conversa, a agência propôs colocar o remédio no regime de aprovação Fast Track.

Em suma: todo o processo foi claramente sui generis, com vários pontos inusuais. E houve mais um, que talvez seja o mais alarmante de todos. No primeiro semestre de 2021, a Biogen submeteu um artigo científico sobre o aducanumab para publicação no JAMA: o jornal da Associação Médica Americana, que existe desde 1883 e é a publicação científica mais importante dos EUA. Ele adota o modelo de “revisão por pares”, em que cientistas independentes analisam o conteúdo dos artigos antes que sejam publicados. E foi aí que o aducanumab sofreu mais um percalço.
Segundo o site americano Axios, o JAMA teria pedido esclarecimentos e alterações no estudo científico sobre o remédio – que a Biogen teria se recusado a fazer, preferindo simplesmente não publicar o trabalho. Isso é altamente incomum, e despertou suspeitas sobre os resultados apresentados pelo laboratório. O JAMA não comenta o episódio. Questionada pela Super, a Biogen confirmou o entrevero com o JAMA – mas disse que, “para proteger a integridade do processo de revisão científica”, não comentaria o caso.
O fato é que, até hoje, os dados da Biogen que supostamente mostram a eficácia do remédio não foram publicados em nenhum jornal científico com revisão por pares, ou seja, analisados por cientistas independentes. Então eles não podem ser levados em conta; na prática, é como se não existissem.
Em setembro de 2021, a polêmica foi parar no Congresso dos EUA, onde duas comissões de deputados pediram esclarecimentos à FDA. O preço do aducanumab também gerou controvérsia, pois ele poderia representar um custo anual de US$ 29 bilhões a US$ 57 bilhões para o programa Medicare, do governo americano, que reembolsa o valor gasto com remédios (nos EUA, 6 milhões de pessoas têm Alzheimer).
A FDA diz que está fazendo uma auditoria interna relacionada ao aducanumab, e também alterou as condições de aprovação do remédio: ele só poderá ser receitado para pacientes com Alzheimer leve, e não para todos os que têm a doença, como havia sido liberado.
Com toda a repercussão negativa, o aducanumab chegou ao mercado afundando como um tijolo em um lago. A expectativa da Biogen era de que a nova droga seria adotada por 900 centros médicos, e analistas de mercado previam US$ 16 milhões em vendas no primeiro trimestre após o lançamento. Na prática, só 120 clínicas o adotaram, gerando irrisórios US$ 300 mil em faturamento. Uma pesquisa feita pelo site especializado Medscape com 850 médicos (8) constatou que 87% deles discordam da aprovação do remédio pela FDA – e 42% se dizem “muito preocupados” com a possível pressão das famílias de pacientes para que receitem a droga.
Isso porque o aducanumab também provoca efeitos adversos – e eles não são triviais. Esses dados (que, ao contrário dos números de eficácia, foram publicados no JAMA (9)) indicam que 41,3% dos pacientes tratados com o remédio apresentaram “anormalidades de imagem” em exames do cérebro. A mais comum foi edema (inchaço) cerebral, visto em 35% dos pacientes, sendo que 26% tiveram sintomas decorrentes dele, como dor de cabeça, tontura e confusão mental. 19,1% apresentaram micro-hemorragias no cérebro.
Foram esses motivos, mais a falta de eficácia do remédio, que a European Medicines Agency (EMA, o equivalente europeu da FDA) citou no final de dezembro de 2021 para barrar o aducanumab, que não poderá ser vendido no continente. A Biogen diz que os efeitos colaterais são esperados e administráveis, podendo ser resolvidos com a interrupção temporária do tratamento – e irá recorrer do parecer da EMA. É pouco provável que ela consiga reverter totalmente a decisão. A agência regulatória do Japão também barrou a liberação do remédio no país, e pediu que o fabricante forneça mais dados.
Nos Estados Unidos, onde ele foi liberado, a FDA determinou que a Biogen deverá fazer mais um estudo clínico com a droga, que poderá ser tirada do mercado se fracassar. Mas isso vai demorar: a agência deu nove anos de prazo para a Biogen, que pretende completar o trabalho em quatro.
Enquanto isso, o aducanumab continuará sendo vendido nos EUA, o que pode ter uma consequência perigosa: ele pode constituir um mau precedente, representando um estímulo para que a indústria tente aprovar medicamentos “na marra”, sem a devida comprovação de eficácia e segurança. E os pacientes e suas famílias, desesperados por qualquer coisa que possa ajudá-los, acabarão exigindo essas drogas, mesmo que elas não tenham comprovação científica – o que criará um novo estímulo para aprovar mais remédios à força, formando um círculo vicioso. “Quando ofertamos remédios caros, com efeitos colaterais graves e sem benefícios concretos, não estamos facilitando o avanço das pesquisas. Estamos prestando um desserviço”, diz o neurobiólogo George Perry, da Universidade do Texas.
Para ele, os efeitos adversos do aducanumab podem ser até piores do que os estudos indicaram. “Os testes clínicos [da Biogen] foram realizados em pessoas selecionadas, sem comorbidades comuns na população idosa, incluindo problemas vasculares.”
De fato, há estudos relatando complicações mais intensas: como o caso de um homem de 67 anos que teve seis episódios de edema cerebral (10) durante o tratamento, e uma mulher de 80 cujo cérebro apresentou “anormalidades” após a quinta dose do remédio. Ela entrou no chamado status epilepticus, com convulsões intensas e prolongadas (11). Quatro dias mais tarde, teve sangramento cerebral e entrou em coma. Morreu três semanas depois.
Todo remédio tem efeitos colaterais, sejam de maior ou menor gravidade. É normal, faz parte da medicina. Eles são comparados aos potenciais benefícios que aquela substância traz aos pacientes; se a proporção se mostrar favorável, a droga é aprovada. Foi isso que o aducanumab não conseguiu demonstrar. No fim de dezembro, a Biogen anunciou um corte de 50% no preço do remédio, que passará a custar US$ 28 mil anuais.
Apesar dessa medida para tentar salvá-lo, as ações da empresa continuaram no fundo: estão 37% abaixo do seu ponto mais alto, registrado no dia em que o remédio foi liberado nos EUA. E Al Sandrock, principal cientista da empresa (e protagonista daquele encontro com um diretor da FDA), vai se aposentar.
É um desfecho frustrante para um medicamento que se mostrou capaz de fazer o que prometia, limpar as placas de proteína beta-amiloide – mas não conseguiu tratar o Alzheimer. A chamada “teoria amiloide” é pesquisada há mais de 30 anos, e era a mais aceita pelos cientistas. E agora? O fato de que o medicamento cumpre seu objetivo com sucesso, e ainda assim não alcança resultados concretos para a saúde dos pacientes, coloca em xeque toda essa linha de trabalho. “Estamos perdendo tempo com essa hipótese, quando podíamos estar pesquisando outras possibilidades”, diz George Perry, da Universidade do Texas. Vamos a elas.

“Eu me perdi”
A doença de Alzheimer é tão devastadora para os pacientes quanto para suas famílias. Auguste Deter, a dona de casa alemã que entraria para a história como a primeira pessoa a ser diagnosticada com a doença (então conhecida como “demência pré-senil”) pelo médico Alois Alzheimer, morreu em 1906, aos 55 anos, internada no Hospital de Lunáticos e Epilépticos de Frankfurt, longe do marido, Karl, e da filha, Thekla.
Entrevistada pelo psiquiatra em diferentes ocasiões, ela não lembrava seu sobrenome, sua idade ou o nome do marido. “Ich habe mich verloren”, dizia com frequência – a expressão significa “eu me perdi”. Após a morte de Auguste, o dr. Alzheimer analisou o cérebro da paciente e nele encontrou as placas de proteína beta-amiloide que se tornariam o sinal clássico da doença. E removê-las se tornou o grande objetivo. Hoje conseguimos fazer isso; mas não curamos o Alzheimer.
“A teoria das placas beta-amiloides pode não ser válida, ou simplesmente pode ser que a medicação esteja sendo utilizada tarde demais, porque a doença demora anos para se desenvolver e seus primeiros sintomas costumam passar despercebidos”, diz o bioquímico Mychael Lourenço, professor da UFRJ e especialista em Alzheimer.
Na prática, pode ser muito difícil separar os esquecimentos normais e pontuais, que fazem parte da vida, de algo mais sério, que justifique procurar um médico. E quando a pessoa finalmente faz isso, pode ser tarde. Qualquer tratamento tem melhores chances de sucesso quando pega a doença no começo.
Mas num cenário em que a maioria dos médicos já encara o aducanumab com ceticismo, quantos teriam coragem de receitá-lo de forma “precoce”, considerando os efeitos colaterais? Precisaria existir um estudo clínico analisando esse tipo de uso do remédio – e isso não foi feito. Também há outro complicador: há muitas pessoas que apresentam placas de beta-amiloide no cérebro, mas não desenvolvem Alzheimer. Em um estudo feito nos EUA com 1.671 idosos, 41% dos voluntários acima de 80 anos apresentavam as placas – mas nenhum deles tinha Alzheimer (12).

Por isso, talvez a doença tenha outra causa. Uma hipótese diz respeito à tau, uma proteína responsável pela estrutura dos neurônios. Por razões ainda não compreendidas, ela pode sofrer transformações químicas que levam à formação de emaranhados neurofibrilares (deformações internas nos neurônios). Em dezembro de 2020, pesquisadores da Universidade de Washington constataram que existe uma relação entre a quantidade dessa proteína no fluido cerebroespinhal, que envolve o órgão, e a presença e gravidade do Alzheimer (13).
De forma semelhante à teoria das placas beta-amiloides, essa tese ajudaria a explicar o que causa a degeneração dos neurônios, especialmente nas áreas do cérebro relacionadas à memória. Mas ela também não parece se sustentar como uma causa única. “Existem anticorpos [monoclonais] sendo desenvolvidos para atacar o problema da proteína tau, mas a maioria das pesquisas não avança”, diz Jerusa Smid, da Academia Brasileira de Neurologia.
A empresa suíça AC Immune, por exemplo, desenvolveu um anticorpo, o semorinemab, para combater a proteína tau. Ele teve bons resultados no último teste clínico: dois grupos de 136 pessoas cada, um tomando o remédio e outro placebo, foram comparados ao longo de um ano, e a turma que ingeriu o semorinemab teve 44% menos declínio cognitivo. O problema é que em outro estudo, realizado pela própria AC Immune um ano antes com mais pessoas, o remédio havia fracassado. Portanto, o novo trabalho ainda não pode ser tomado como prova.
Outros anticorpos contra a proteína tau, desenvolvidos por laboratórios como o TauRx Pharmaceuticals e o Axon Neuroscience, têm falhado repetidamente nos testes. Ou seja: a tau provavelmente não é a salvação da lavoura (inclusive porque o aducanumab também age contra ela, e mesmo assim não traz benefícios contra a doença).
Pode acabar acontecendo com ela o que ocorreu com a “hipótese colinérgica”, segundo a qual o Alzheimer é causado pela queda nos níveis do neurotransmissor acetilcolina – que de fato são mais baixos nos cérebros afetados pela doença. Em 1995, surgiu um medicamento capaz de aumentá-los (inibindo a acetilcolinesterase, uma enzima que normalmente “come” esse neurotransmissor).
Mas, na prática, também não funcionou como esperado: traz benefícios bem modestos. Talvez porque a queda de acetilcolina não seja a causa, e sim uma consequência, do Alzheimer? Há quem diga que isso também possa valer para as placas de proteína beta-amiloide e para a proteína tau. O certo é que atacar esses três pontos, até agora, não adiantou.
Uma quarta hipótese diz respeito a infecções pela bactéria P. gingivalis, que causa gengivite. Ela produz uma enzima chamada gingipaína, que destrói tecidos – e foi encontrada nos cérebros de pessoas que morreram de Alzheimer. O laboratório americano Cortexyme criou um remédio que bloqueia essa enzima. O resultado dos testes em humanos foi divulgado em outubro, e infelizmente o remédio fracassou – tanto que as ações da empresa despencaram 75%.

Também há teses propondo que o Alzheimer pode ser causado pelo excesso de colesterol no cérebro, por inflamações crônicas ou até por diabetes. “Existe a teoria de que a doença seria uma espécie de ‘diabetes tipo 3’”, diz Smid. Nessa situação, os neurônios se tornariam resistentes à ação da insulina. Isso reduziria sua capacidade de metabolizar a glicose (principal fonte de energia do organismo) e poderia levar ao surgimento de placas amiloides no cérebro.
Além dessa hipótese, há uma possível associação entre Alzheimer e a diabetes “tradicional”, do tipo 2. Ela foi destacada pelo chamado “estudo Rotterdam” (14), de 1996, que investigou mais de 6 mil idosos e constatou que, entre os que sofriam de Alzheimer, havia uma incidência bem mais alta de diabetes do que entre os demais.
O problema, como se diz na ciência, é que “correlação não é causa”. O fato de a diabetes ser mais comum entre os pacientes de Alzheimer não significa, necessariamente, que uma doença cause a outra. Tanto é assim que, duas décadas depois, essa linha de pesquisa ainda não levou à criação de nenhum tratamento.
O fato é que a medicina continua tão perdida na luta contra o Alzheimer quanto estava antes do surgimento do aducanumab. “Há medicamentos utilizados há muitos anos para amenizar os sintomas da doença, mas eles são pouco eficazes”, diz Vitor Tumas, professor do departamento de neurociência da Faculdade de Medicina da USP. “O que temos não é eficiente. Os remédios atuais são o equivalente a ter pneumonia e tomar dipirona [um anti-inflamatório ineficaz para esse fim]”, compara Claudia Suemoto, da USP.
Há enorme demanda por novas formas de combater a doença. Como as drogas levam muito tempo, e geralmente fracassam, surgem tentativas criativas. É o caso do uso de luz pulsada a 40 Hz (40 flashes por segundo). Em 2016, a neurocientista Li-Huei Tsai, do MIT, colocou ratos diante de uma luz assim. Os cérebros deles estavam cheios de placas amiloides – que encolheram bastante após sete sessões de uma hora (15).
Isso supostamente acontece porque o estímulo luminoso gera ondas cerebrais que estimulam as micróglias, um tipo de célula que faz a manutenção do cérebro (e “come” beta-amiloide). Seria mais ou menos como tomar aducanumab só que sem os efeitos colaterais.
Um tratamento assim poderia ser usado de forma bem precoce, aos primeiros sinais de declínio cognitivo, ou até preventivamente. Ele já está sendo testado em humanos. Mas há dois poréns. Primeiro, ratos não têm Alzheimer (as cobaias do estudo haviam sido geneticamente modificadas para produzir beta-amiloide). E quem disse que as placas são mesmo a causa da doença? Essa é, afinal, a grande dúvida deixada pelo fracasso do aducanumab.
O Alzheimer desconstrói a mente de suas vítimas – e, ao fazer isso, torna dolorosamente nítido o papel das memórias na cognição humana. Por isso, talvez seja importante lembrar de certas coisas na luta contra ele. Lembrar da força do método científico e da importância de segui-lo, sem ceder a interesses ou pressões. Lembrar do poder que a medicina tem de investigar, entender e eventualmente vencer doenças, por mais que isso possa demorar. Lembrar que reveses fazem parte do progresso. E lembrar que, enquanto a humanidade continuar sua jornada pelos mistérios do corpo e da vida, tentando encontrar a luz dentro de enigmas aparentemente impenetráveis, sempre haverá esperança.
***
Fontes (1) 221AD301 Phase 3 Study of Aducanumab (BIIB037) in Early Alzheimer’s Disease (ENGAGE). Dados não-revisados disponíveis em clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02477800. 221AD302 Phase 3 Study of Aducanumab (BIIB037) in Early Alzheimer’s Disease (EMERGE). Dados não-revisados disponíveis em clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02484547.
(2) The Current Status of Drug Discovery and Development as Originated in United States Academia: The Influence of Industrial and Academic Collaboration on Drug Discovery and Development. T Takebe e outros, 2018. (3) FDA Grants Accelerated Approval for Alzheimer’s Drug. 7/junho/2021. (4) Disponível em bit.ly/3J4pI0W. (5) Association Between Food and Drug Administration Advisory Committee Recommendations and Agency Actions, 2008–2015. A Zhang e outros, 2019. (6) The antibody aducanumab reduces AB plaques in Alzheimer’s Disease. J Sevigny e outros, 2016. (7) Inside ‘Project Onyx’: How Biogen used an FDA back channel to win approval of its polarizing Alzheimer’s drug. A Feuerstein, M Herper e D Garde, 2021.
(8) www.medscape.com/viewarticle/953996 (9) Amyloid-Related Imaging Abnormalities in 2 Phase 3 Studies Evaluating Aducanumab in Patients With Early Alzheimer Disease. S Salloway e outros, 2021. (10) Six Recurrent Amyloid-Related Imaging Abnormality Episodes in a Patient Treated With Aducanumab. J Hall e outros, 2021. (11) FDA Clinical Review: 761178. Disponível em bit.ly/3E8RiXb. (12) Prevalence and outcomes of amyloid positivity. R Roberts e outros, 2018. (13) CSF tau microtubule binding region identifies tau tangle and clinical stages of Alzheimer’s disease. K Horie e outros, 2020.
(14)Association of diabetes mellitus and dementia: the Rotterdam Study. A Ott e outros, 1996. (15) Gamma frequency entrainment attenuates amyloid load and modifies microglia. T Tsai e outros, 2016